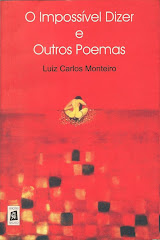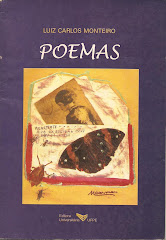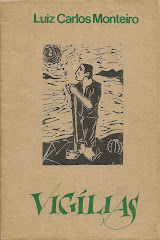A REVOLUÇÃO DA BESTA FUBANA
Estreante com o conjunto de crônicas A Prisão de São Benedito e outras histórias (1982), o escritor Luiz Berto vai conseguir destacar-se como ficcionista já no segundo livro, O romance da Besta Fubana. Este romance é feito de sucessos supostamente acontecidos e de outros que realmente aconteceram, tendo como marco temporal o período agosto-dezembro de 1953, iniciando-se exatamente um ano antes da morte de Getúlio Vargas. A cidade de Palmares, na mata sul pernambucana, terra natal do romancista e de outros nomes consagrados como Hermilo Borba Filho e Ascenso Ferreira, fornece o cenário e a ambientação para a instauração de uma República Rebelada fictícia, onde acontecimentos inauditos terão lugar, com a realidade convivendo estreitamente com a fábula, a fantasia e o sonho.
Na obra de Luiz Berto, o único livro que não tem Palmares como locação e assunto principal é o romance histórico Memorial do mundo novo (2001), ao que tudo indica, cometido intencionalmente para as comemorações do descobrimento. Sustenta-se no personagem Diogo de Paiva, que aporta no Cabo de Santo Agostinho em 1500 na expedição de Vicente Iañez Pinzon, desligando-se desta para ficar no Brasil e atravessar todos os momentos históricos da colônia, em especial da Província de Pernambuco. Esse personagem funde-se à própria história brasileira, deslizando acintosa ou subterraneamente nos limites de descoberta e perigo que perfazem a construção do “mundo novo”, entre guerras e insurreições e, mais à frente, entre a monarquia e as repúblicas velha e nova, até ser assassinado em 2003.
O romance Nunca houve guerrilha em Palmares (1987) tem seus momentos mais fortes na preparação de uma visita do governador Miguel Arraes a Palmares, na pichação de toda a cidade por um grupo de boêmios e comunistas e na evolução, à época, da luta de classes na zona canavieira, contando com a presença e a atuação do líder comunista Gregório Bezerra, até a voga da repressão em 1964. Neste livro, o cego Anísio, que toca sanfona e canta baiões e xaxados em troca das esmolas que a mulher recolhe, que teme também pelo fim do governo Arraes e dos benefícios garantidos aos camponeses, demonstra certas analogias de ofício com um dos cegos do Romance da Besta Fubana, Zé da Ferida, que forma com a família uma mini-empresa de mendicância, e quando a mulher Maria Banga enlouquece, ele passa a explorar a boa-fé de romeiros e crédulos de toda parte e sorte para ganhar dinheiro. Maria Banga se torna transparente e flutua acima do chão, e no décimo dia de loucura profetiza a vinda da Besta Fubana: “Ela vai chegar se abanando e dando o peito a mamar aos precisados. Mas, também, os despossuídos de piedade aos pobres vão conhecer a peia que arde por mais de dez anos. A merda vai dar dez tostões o dedal no oitão do mercado. Ela vai chegar alumiada e sombrejada, de uma vez só; e Palmares vai ter noite no pingo do meio-dia; noite de galinha subir nos poleiros”.
Ainda neste primeiro capítulo do Romance da Besta Fubana, são apresentados os personagens que irão ascender ao topo da trama, para depois desaparecerem em anonimato e desgraça. Serão os futuros membros da Junta Governativa da República Rebelada dos Palmares o cego Chico Folote, vendedor de raízes e garrafadas, que troca de mulher todo mês de setembro e fornica com duas sobrinhas e um sobrinho; o sapateiro comunista Joaquim, perseguido pela polícia política e sem penetração nas camadas médias e populares de Palmares; o poeta e astrólogo Telles Júnior, recluso em seu esoterismo e estranheza. Todos capitaneados e liderados pelo cantador de viola Natanael, também camelô e detentor de qualidades ímpares para a sobrevivência nos momentos mais dificultosos e a persuasão de quem porventura atravesse seu caminho. Sem esquecer a prostituta Amara Brotinho, escolhida na zona da Coréia pelo cantador para ser sua companheira na tremenda aventura de poder e fausto temporário que viverão.
A riqueza discursiva e, em alguns instantes, a prolixidade das falas iniciais de cada personagem principal são substituídas pela ação no segundo capítulo, que mostra todos os passos da Revolta. É flagrante a desorientação programática dos participantes, mas a junção de três passeatas durante a caminhada pela cidade, termina por arrebanhar o restante da população e até os animais: “Somente o propósito de alterar e subverter a rotina estabelecida guiava aquela gente. Até mesmo as lideranças se anularam e tiveram apenas que seguir as normas ditadas pelo imenso inconsciente coletivo da multidão. Uma vontade comum e indefinida unia as pessoas. Em determinado momento, o barulho dos animais sobrepujou o das pessoas, mas ninguém achou nada de anormal neste fato, e continuaram todos, gente e bichos na união mais perfeita, cada vez mais estreitada pelo enorme alarido”. Luiz Berto elege os mais frágeis e excluídos para se rebelarem: as putas, lideradas por Amaro Brotinho contra o delegado e os policiais que foram fechar a zona, derrotando-os em luta aberta; os pequenos comerciantes contra o fisco estadual, pelos impostos abusivos cobrados; e os romeiros contra a Igreja e seus representantes que teimavam em não reconhecer a santidade de Maria Banga. A Milícia da Besta, exército da República Rebelada, e a população palmarense vão enfrentar e derrotar, à maneira de um outro Arraial de Canudos, várias incursões e missões policiais e militares.
Este romance guarda algumas peculiaridades como a transitação, em seu corpus, de pessoas que realmente existiram ou ainda existem, em associação com personagens criados pela imaginação do autor e com aqueles em que o nome sofre modificações que ainda assim o tornam reconhecível, a exemplo de Ornaldo Timbu por Orlando Tejo. As falas e expressões populares são aproveitadas, muitas vezes, na sua origem remota e literal com seus palavrões e praguejamento, sua malícia e seus ditos sarcásticos. O imaginário popular é retemperado também por referências a festas religiosas e profanas, crendices e superstições, funções como cantorias de viola, pastoris e reisados, além de apresentações de bandas de pífanos e bandas municipais de música, entre outras manifestações.
A cobiça, a ganância e a luta interna pelo poder destroem o sonho da República Rebelada dos Palmares, o que nem o General-Presidente Natanael nem a Besta Fubana poderão impedir. Os Ministros desentendem-se incessantemente: o cego Chico Folote briga com Telles Júnior que briga com o sapateiro Joaquim, cada um pretendendo formar um país independente dentro do território da República. No capítulo final, o escritor segue dando notícias do que teria acontecido com os participantes da aventura, inclusive encerrando o livro com uma referência elogiosa à bibliotecária Jessiva Sabino, por ter guardado documentos relativos à revolta. No entanto, um trecho anterior, que mostra a partida definitiva da Besta, poderia muito bem encerrar o romance: “A Besta Fubana largou os Seus à própria sorte e bateu asas num vôo fantástico que provocou calafrios em todos que ouviram o barulho e presenciaram os clarões de fogo que cobriam os céus. Partia a Entidade para o espaço, desencantada com a desunião do seu povo. Castigava, com a Sua ausência, a desmesurada ambição dos condutores da Revolta. E, com Sua partida, apagava-se a chama que tanto brilhara. Acabava-se a incrível aventura. Exatos quatro meses durara aquela experiência da República Rebelada dos Palmares. O sonho diluía-se em meio à fumaça e à luz que a Grande Líder deixara no rastro do Seu vôo de volta para a imensidão do infinito. Mais uma vez o céu se iluminava ao bater das asas da Besta Fubana”.
Dentro da desordem estilística e vocabular parcial em que se removeu no Romance da Besta Fubana, Luiz Berto imprimiu ao que viu, ouviu e sentiu a necessária ordenação literária e estrutural, sem preocupar-se demasiado com possíveis classificações de gênero a partir das diversas concepções de realismo mágico, real maravilhoso ou realismo fantástico para a ficção em voga nas décadas de 1970 e 80, durante o “boom” latino-americano. Mostram-se como componentes expressionais de grande relevância na sua prosa o misticismo religioso e profano, o sexo despudorado, o relato de uma revolução política apenas imaginada e a sátira violenta aos poderes nascentes ou instituídos. Na condição de narrador onisciente e consciente do alcance do seu discurso, empresta dicção independente e diferenciada a cada um dos personagens do romance, gerando uma espécie de polifonia que tanto pode resultar da pesquisa de campo empreendida como da sua própria verve e espontaneidade criativa de ficcionista.
(In: Continente, “A revolução da Besta Fubana”, ano IV, nº 46, out. 2004; aqui, com pequenas alterações e obedecendo ao texto original do autor.)
POEMAS DA SÉRIE INÉDITA A OUTRA VOLTA DO SOL
O GUIA DE CEGO
No olhar firme e fundo
do comprido da fome
a sina que se estende
do menino ao homem
no destino de guia
ao humor inconstante
das tabicadas do cego
pelos estreitos caminhos
a circular pelas feiras
em fazendolas e casas
nos povoados e sítios
do Sertão brabo e da Mata
a pobre infância fendida
entre mil pragas de agora
na aspereza de uma vida
de sem família e memória.
Mas o guia menino
saciada sua fome
bota o olho comprido
no engraçado do dia
indiferente e alheio
a espalhar os boatos
imaginando intrigas
sem escolher suas vítimas
sem lhe importar o castigo
que certamente teria
nos puxavões de orelha
e chicotadas no lombo
em lamboradas de relho
desengonçado no tombo
que se refaz na afoiteza
de sua língua sem freios.
sábado, 27 de março de 2010
quarta-feira, 24 de março de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XVIII
O AMOR, A MUSA E A CRUZ NA POESIA
DE WEYDSON BARROS LEAL
O novo livro de Weydson Barros Leal, A quarta cruz (Rio de Janeiro, Topbooks, 2009), é trabalhado a partir de uma tríade predominante que envolve os desígnios mutantes do amor, os humores e caprichos da musa e a onipresença insofrida e ambígua da religiosidade. Os poemas mais longos lembram um certo Vinícius elegíaco do início, às voltas com o sobrenatural nas praias do Rio de Janeiro. Palavras que ressoam, circulam e se revelam fortes, de imagética em choque perene entre cotidiano e metafísica, intentando a conciliação de memória e impossibilidade. Anteriormente já tinha anotado, em artigo sobre a coletânea Os círculos imprecisos (1994), o diálogo entre a poesia de Barros Leal e a de Ferreira Gullar, na apreensão de uma sintaxe do fogo, da vertigem e do incêndio.
Em “A nona hora”, primeira parte do livro, os nove poemas se distribuem de um modo bem eclético quanto aos assuntos. Não deixa de falar do Recife, suas “Baronesas” que sugerem o movimento lento do verde nas águas fétidas do rio, e o arco ferruginoso de suas pontes, mesmo se algum prefeito manda pintá-las. “Noites de Ipanema” expõe a presença surda e inesquivável do Cristo Redentor, símbolo da cidade e juiz implacável que, mesmo de perfil, a tudo julga e observa: “Seu perfil totêmico – a cabeça levemente/ inclinada sobre o peito – em nada faz lembrar/ a forma em cruz de quando visto de frente./ Este ângulo dissolve-lhe os braços,/ e com a mão direita/ a estátua aponta para mim”. Há, ainda, em “Contra inspiração”, considerações sobre emoção e objeto, concreto e contemplação. Neste embate, o descritivo cede lugar à comoção e vice-versa, restando ao poeta ouvir as batidas do seu coração visto percussivamente como “tambor”, e ouvindo o próprio “silêncio, carregado/ demais de significados// inapreensíveis/ para a teoria”.
Na segunda parte, “O tear da manhã”, o discurso lírico se reafirma a partir de versos que falam de partida, ausência e solidão. O poema “A carta”, que não redime a inevitabilidade da morte, exprime a constatação de um destino comum a tudo que é humano, a tudo o que tem fim, duração e recomeço: “Seremos, no fim, uma data,/ um nome sobre a pedra fria./ No tapete da terra, a carta/ que se lê mas que não se envia.// No fim, um corpo, um rastro, a lenda,/ e depois de tudo a certeza/ de não ser nada além da emenda/ entre o jazigo e uma vela acesa”. O impacto sobre o ser é o seu desaparecimento, mesmo que alguma “lenda” resista, ele ficará encerrado numa lápide fria e circunscrita apenas ao ermo de duas datas – a data promissora de quem nasce e vê a luz do mundo e a data de quem fica cego a essa luz propiciadora da vida, de quem terá por luz apenas a precariedade ritual da “vela acesa”. É no terceiro bloco, “Poíesis”, que essa dicção apaixonada chega ao seu auge, e o amor cede espaço a um tom sentimentalista em oposição ao cerebralismo, ao discurso expressionista e à linguagem concreta e enxuta de outros poemas. Mas o registro pessimista, forte mas não destrutivo, centrado ainda em vivências traumáticas e demasiadamente solitárias aflui num poema como “Verbo”: “Agora que és uma costela,/ faz o teu corpo.// O tempo conduzirá ao seu leito/ a língua de tua fogueira.// Que tu a ames,/ como se ama o que morre.// Eis o amor”.
Weydson Barros Leal explicita, no último bloco, a junção entre religiosidade e vida prática, a internalização mística e o que vem das experiências de fora. O bater martelado dos relógios, o tumulto premonitório e a dúvida que se instauram na vida presente e que não se mostra satisfatória. A busca de algo impossível de se concretizar por agora, no caos elementar e vertiginoso em que se vive, mas sempre entrevisto num futuro adiado, no bojo da espera dos acontecimentos improváveis, na transformação do ser em um ser mais solidário e liberto, na transformação do mundo em um mundo mais justo e humanizado. O sentido metafórico mais aguçado de “A quarta cruz” se mostra em “O bom ladrão”. Ele é aquela figura que cometeu todos os erros em nome do amor. Foi pária, maldito, anti-social e renegado ao quebrar todas as normas, regras, leis e convenções guiado por algo maior, mesmo que a sociedade, a família e os amigos o deserdassem. Passou a sofrer um tipo de condenação tranquilamente absorvida e assumida, feito quem, sem mais esperança de nenhuma espécie, se dirige de cabeça erguida ao cadafalso. E faz, assim, o reconhecimento da associação advinda de imanência e transcendência, absorvendo a hora definidora e fatídica em que se reconciliará consigo mesmo e com o mundo.
O CAOS ROMANCEADO DE RAIMUNDO CARRERO
A trajetória literária do romancista Raimundo Carrero atingiu um dos seus pontos mais significativos com a publicação de Sinfonia para vagabundos, nono livro de sua já respeitável lavra no campo da ficção. Não é exagero afirmar que o leitor vai deparar-se, neste romance, com diferenciados aspectos e recursos pertinentes ao âmbito próprio da literatura, com técnicas múltiplas e variadas do fazer literário. É um fato também que este fazer literário, se encarado como um complexo de totalizações e/ou fragmentações observadas ao nível por demais amplo da linguagem, e por indução da língua, de sua(s) preservação ou desmembramento, teria a função primordial de propiciar a amplitude e a diversidade necessárias à elaboração e ao acontecimento do fenômeno artístico da criação literária, e nesse caso particular, da obra de ficção.
No seu aspecto técnico-estrutural, Sinfonia para vagabundos é composto de três grandes blocos: “Se é desejo assassinar a alma”, “Companheiros do subterrâneo” e “Arcanjos derrotados”, que aparecem também como poemas curtos antecedendo a prosa e a poesia internas a cada um deles, poemas e blocos, e de um pós-epílogo: “O tigre desolado”, ponto de tensão máxima do romance, quando deflagra-se a crise do professor Deusdete, que se reflete na ruptura com os valores, tipo de comportamento e postura individual e social que vinha assumindo ao longo de sua vida, e de um delírio radical do personagem Natalício, onde este exprime o desejo nada comum de ‘trocar de alma para vencer as barreiras dos espelhos circulantes e mergulhar nos subterrâneos onde habitam os anjos, os mártires e os místicos’. Assim, Sinfonia para vagabundos pode ser lido e remontado pelo leitor a partir dos dez textos longos nele ocorrentes – prólogos, textos intermediários sem nenhuma titulação e epílogos, que por sua vez se desdobram numa grande quantidade de textos breves e obsessivamente titulados, como pequenas incursões poéticas em prosa.
Os onze poemas curtos que Carrero insere no livro estão escritos quase todos na primeira pessoa, a forma invariável, se bem que atravessados por versos cortantes, pungentes e dilacerados, como a demonstrar o recorrente processo de laceração, tortura e esmagamento sofrido pelo poeta nos recantos e espaços minados da urbe.
Voltando agora à prosa, e utilizando a qualificação de textos breves para os 78 instantes espalhados pelo livro, feito um disco de 78 rpm que girasse vagarosa e indefinidamente, justificando talvez o que o autor denominou “Visões em preto e branco para sax tenor”, é fácil constatar que tais instantes acham-se entremeados de citações sistemáticas de outros autores, resultando numa grande montagem que se adéqua, mais das vezes, às indagações, afirmações e negativas de Carrero quanto ao seu próprio processo criativo. Aí se verifica também a inserção paulatina dos três personagens que dão sustentáculo à narrativa.
A eterna peregrinação de Natalício, sempre com o saxofone debaixo do braço, a tocar para um público inexistente, personagem em “completo abandono”, músico mendigo, boêmio vagabundo e artista fracassado da ruas do Recife, mas que busca, através da música, ‘a melodia, a harmonia perfeita, o sonho completo’; a exegese aristocrática e decadente do professor Deusdete, um intelectual no sentido antigo, austero e conservador, leitor solitário e contumaz de poesia, que não escolhe ambiente para desfrutá-la nem fazer recitais, independentemente de quem ou do que o rodeia, pois ‘nada lhe interessa além dos livros’; o desajuste permanente de Virgínia, personagem de “trágica invenção”, imersa num vago e indefinido torpor, a pensar o tempo todo sobre o próprio destino, ‘uma mulher que procura o vazio na intimidade’. Virginia é aquela que se manterá virgem até o fim, preservando-se a qualquer custo, debatendo-se entre a perda dessa mesma virgindade e a necessidade de ‘sentir o prazer do sexo’, são esboços abreviados dos personagens de Sinfonia para vagabundos. Pode-se acrescer ainda que eles padecem de uma certa “perda de identidade” já o bastante difundida e banalizada sofrida pelo humano frente à vida e ao mundo, além da sensação de insignificância provocada por essa circunstância particular de o individuo ser apenas um número a mais no cômputo geral da grande massa humana que povoa cidades, países e continentes.
Os tempos verbais nos quais os personagens se movem no romance são também antecipados pelo ficcionista. O “movimento do estático” a que faz referência reflete uma interpenetração de efeitos da observação e da ação que interferem diretamente na construção do romance e dos personagens. E aqui torna-se necessária a utilização de uma certa liberdade conceitual do movimento, que é pertinente ao campo da Cinemática, uma das subdivisões da Física. O exemplo clássico para o tipo de movimento no qual estaria incluído o movimento do estático definido por Carrero é o “movimento relativo”, se se avaliar isto por um ângulo estrito e unilateral; o movimento relativo em Física seria, então, o movimento de pessoas ou objetos estáticos no interior de um “móvel” em relação a um observador externo a ambos.
Para fazer uma comparação inusitada, o observador, no caso em questão, viria a ser o próprio escritor que destece a trama e impulsiona a narrativa, sem muitas vezes dela(s) participar ativamente (quando, como na maioria das páginas deste livro, desloca a escrita para a 2ª ou 3ª pessoa) e as pessoas no interior do móvel os personagens. O romance representaria, nesse contexto, o móvel, cujo movimento se inaugura a partir da transcrição dos signos verbais que o compõem e o tornam em coisa viva, durante o acidentado percurso de sua elaboração e feitura.
É este, numa visada geral e de enfoque crítico rápido e parcial, o caos romanceado por Raimundo Carrero em Sinfonia para vagabundos. Um caos organizado, porém – justaposto com exatidão e critério em suas minúcias e detalhes exaustivos, em seus instantes, círculos, discursos, delírios e poemas, e ainda na transitação discreta e efêmera de seus personagens visualizados à luz obscura das ruas, bares, praças, bairros e avenidas da cidade do Recife.
(In: Jornal do Commercio, Caderno C, 28/05/1995; aqui, com pequenas alterações.)
UM POEMA DE NOEL TAVARES
O poeta e compositor Noel Tavares publicou, em 2009, seu segundo livro de poesia Andávia, em edição particular, com incentivo público. Os seus poemas falam preferencialmente de coisas cotidianas, terrenas, abrindo espaço também para o sentimento lírico, a revolta ante as injustiças sociais e a convivência familiar e fraterna. Contudo, no poema aqui escolhido, “Ode à cidade do Recife”, Tavares estabelece o seu campo de atuação urbano, ao cruzar as fronteiras marginais da cidade, ao adentrar as esquinas, ruelas, mercados e bares onde se fomentam as vivências precárias e diferenciadas dos esquecidos, dos desocupados e sem função social definida na grande máquina movida pelo sistema político-financeiro da cidade e do país. Faz referência a poetas pernambucanos como Manuel Bandeira e Carlos Pena Filho, parodiando-os. Pena Filho tem um longo poema sobre o Recife, que se situa historicamente a partir da criação da cidade, passando pela expulsão dos holandeses, até chegar ao nosso tempo, o Guia prático, onde costumes e hábitos são dissecados nos bairros centrais e nos subúrbios. É um canto que se rebela também com as vivências pequeno-burguesas da cidade, com a indiferença mostrada na relação com seus filhos, expulsando alguns deles para outras paragens. Tal como no poema de Noel Tavares, que aqui se transcreve:
Hoje, não cantarei o Recife de Manuel Bandeira,
o Recife da lira e das bandeiras liberais,
o Recife do chicote-queimado na rua da União,
do coelho; sai-não-sai, sai-não-sai.
O coelho sai? Não sai!
Hoje, cantarei o Recife das mulheres da vida
e desses homens marginais. O Recife dos loucos
que estendem as mãos e riem de si mesmos
como se fossem seres tão normais.
O Recife dos heróis, sem glória e sem nome,
cuja lista daria tranquilamente para encher as estantes
da Academia Real de Londres.
Hoje cantarei o Recife dos mangues, das palafitas,
das crianças exangues, que teimam em existir.
O Recife das crianças que andam sobre a lama
em busca de um siri.
Hoje, cantarei o Recife do: é melhor partir.
Mamãe, eu acho que vou para o Rio de Janeiro,
acho que lá não tem um rio que fede igual a esse aqui.
Mas o rio Capibaribe não escuta,
porque está preocupado em invadir a várzea
para desovar a miséria.
Recife é coisa séria! Às vezes, esquisito;
ás vezes, esquistossomose.
E enquanto um delira, o outro morre
sem saber do que, por que e para que.
E lá no bar Savoy, tantos de porre!
Lá no bar Savoy, onde o poeta Carlos Pena Filho
nunca disse: Recife, eu tenho pena de você.
Hoje cantarei o Recife das pontes,
mas não da família Pontes, nem Vieira, nem Freire
e nem Bandeira. Hoje cantarei o Recife das pontes,
entre a bastança do ter e do não ter.
O Recife dos mendigos, desses artistas de circo
Que saltam do trapézio pra morrer. Tampouco
cantarei o Recife de terno, do cinema moderno,
pois o filme real desta cidade não passa mais ali.
Cantarei o Recife das igrejas, da erva e da cerveja,
do porre e do xixi.
– E eu não quero ir pra Pasárgada.
Eu quero é ficar aqui!
POEMAS DA SÉRIE INÉDITA A OUTRA VOLTA DO SOL
A CANCELA
Nada consegue gemer mais
que uma velha cancela de sítio
solitária entre as cercas
de currais e riachos, baixios
nos barrancos e várzeas, veredas
da terra abandonada.
Ali a Cacimbinha rendeu-se
em morosidade e cansaço.
E já não há moradores,
os rios são barro e areia,
os animais desertaram
a outras furnas e pastos.
Ficaram apenas as mesmas
árvores destemerosas
da mão pesada do homem
na inconstância dos dias:
Pau-d’arco, quixaba, umbuzeiro
o juazeiro a braúna o angico
que jamais desprezaram a quem
as fez de mourão ou abrigo.
DE WEYDSON BARROS LEAL
O novo livro de Weydson Barros Leal, A quarta cruz (Rio de Janeiro, Topbooks, 2009), é trabalhado a partir de uma tríade predominante que envolve os desígnios mutantes do amor, os humores e caprichos da musa e a onipresença insofrida e ambígua da religiosidade. Os poemas mais longos lembram um certo Vinícius elegíaco do início, às voltas com o sobrenatural nas praias do Rio de Janeiro. Palavras que ressoam, circulam e se revelam fortes, de imagética em choque perene entre cotidiano e metafísica, intentando a conciliação de memória e impossibilidade. Anteriormente já tinha anotado, em artigo sobre a coletânea Os círculos imprecisos (1994), o diálogo entre a poesia de Barros Leal e a de Ferreira Gullar, na apreensão de uma sintaxe do fogo, da vertigem e do incêndio.
Em “A nona hora”, primeira parte do livro, os nove poemas se distribuem de um modo bem eclético quanto aos assuntos. Não deixa de falar do Recife, suas “Baronesas” que sugerem o movimento lento do verde nas águas fétidas do rio, e o arco ferruginoso de suas pontes, mesmo se algum prefeito manda pintá-las. “Noites de Ipanema” expõe a presença surda e inesquivável do Cristo Redentor, símbolo da cidade e juiz implacável que, mesmo de perfil, a tudo julga e observa: “Seu perfil totêmico – a cabeça levemente/ inclinada sobre o peito – em nada faz lembrar/ a forma em cruz de quando visto de frente./ Este ângulo dissolve-lhe os braços,/ e com a mão direita/ a estátua aponta para mim”. Há, ainda, em “Contra inspiração”, considerações sobre emoção e objeto, concreto e contemplação. Neste embate, o descritivo cede lugar à comoção e vice-versa, restando ao poeta ouvir as batidas do seu coração visto percussivamente como “tambor”, e ouvindo o próprio “silêncio, carregado/ demais de significados// inapreensíveis/ para a teoria”.
Na segunda parte, “O tear da manhã”, o discurso lírico se reafirma a partir de versos que falam de partida, ausência e solidão. O poema “A carta”, que não redime a inevitabilidade da morte, exprime a constatação de um destino comum a tudo que é humano, a tudo o que tem fim, duração e recomeço: “Seremos, no fim, uma data,/ um nome sobre a pedra fria./ No tapete da terra, a carta/ que se lê mas que não se envia.// No fim, um corpo, um rastro, a lenda,/ e depois de tudo a certeza/ de não ser nada além da emenda/ entre o jazigo e uma vela acesa”. O impacto sobre o ser é o seu desaparecimento, mesmo que alguma “lenda” resista, ele ficará encerrado numa lápide fria e circunscrita apenas ao ermo de duas datas – a data promissora de quem nasce e vê a luz do mundo e a data de quem fica cego a essa luz propiciadora da vida, de quem terá por luz apenas a precariedade ritual da “vela acesa”. É no terceiro bloco, “Poíesis”, que essa dicção apaixonada chega ao seu auge, e o amor cede espaço a um tom sentimentalista em oposição ao cerebralismo, ao discurso expressionista e à linguagem concreta e enxuta de outros poemas. Mas o registro pessimista, forte mas não destrutivo, centrado ainda em vivências traumáticas e demasiadamente solitárias aflui num poema como “Verbo”: “Agora que és uma costela,/ faz o teu corpo.// O tempo conduzirá ao seu leito/ a língua de tua fogueira.// Que tu a ames,/ como se ama o que morre.// Eis o amor”.
Weydson Barros Leal explicita, no último bloco, a junção entre religiosidade e vida prática, a internalização mística e o que vem das experiências de fora. O bater martelado dos relógios, o tumulto premonitório e a dúvida que se instauram na vida presente e que não se mostra satisfatória. A busca de algo impossível de se concretizar por agora, no caos elementar e vertiginoso em que se vive, mas sempre entrevisto num futuro adiado, no bojo da espera dos acontecimentos improváveis, na transformação do ser em um ser mais solidário e liberto, na transformação do mundo em um mundo mais justo e humanizado. O sentido metafórico mais aguçado de “A quarta cruz” se mostra em “O bom ladrão”. Ele é aquela figura que cometeu todos os erros em nome do amor. Foi pária, maldito, anti-social e renegado ao quebrar todas as normas, regras, leis e convenções guiado por algo maior, mesmo que a sociedade, a família e os amigos o deserdassem. Passou a sofrer um tipo de condenação tranquilamente absorvida e assumida, feito quem, sem mais esperança de nenhuma espécie, se dirige de cabeça erguida ao cadafalso. E faz, assim, o reconhecimento da associação advinda de imanência e transcendência, absorvendo a hora definidora e fatídica em que se reconciliará consigo mesmo e com o mundo.
O CAOS ROMANCEADO DE RAIMUNDO CARRERO
A trajetória literária do romancista Raimundo Carrero atingiu um dos seus pontos mais significativos com a publicação de Sinfonia para vagabundos, nono livro de sua já respeitável lavra no campo da ficção. Não é exagero afirmar que o leitor vai deparar-se, neste romance, com diferenciados aspectos e recursos pertinentes ao âmbito próprio da literatura, com técnicas múltiplas e variadas do fazer literário. É um fato também que este fazer literário, se encarado como um complexo de totalizações e/ou fragmentações observadas ao nível por demais amplo da linguagem, e por indução da língua, de sua(s) preservação ou desmembramento, teria a função primordial de propiciar a amplitude e a diversidade necessárias à elaboração e ao acontecimento do fenômeno artístico da criação literária, e nesse caso particular, da obra de ficção.
No seu aspecto técnico-estrutural, Sinfonia para vagabundos é composto de três grandes blocos: “Se é desejo assassinar a alma”, “Companheiros do subterrâneo” e “Arcanjos derrotados”, que aparecem também como poemas curtos antecedendo a prosa e a poesia internas a cada um deles, poemas e blocos, e de um pós-epílogo: “O tigre desolado”, ponto de tensão máxima do romance, quando deflagra-se a crise do professor Deusdete, que se reflete na ruptura com os valores, tipo de comportamento e postura individual e social que vinha assumindo ao longo de sua vida, e de um delírio radical do personagem Natalício, onde este exprime o desejo nada comum de ‘trocar de alma para vencer as barreiras dos espelhos circulantes e mergulhar nos subterrâneos onde habitam os anjos, os mártires e os místicos’. Assim, Sinfonia para vagabundos pode ser lido e remontado pelo leitor a partir dos dez textos longos nele ocorrentes – prólogos, textos intermediários sem nenhuma titulação e epílogos, que por sua vez se desdobram numa grande quantidade de textos breves e obsessivamente titulados, como pequenas incursões poéticas em prosa.
Os onze poemas curtos que Carrero insere no livro estão escritos quase todos na primeira pessoa, a forma invariável, se bem que atravessados por versos cortantes, pungentes e dilacerados, como a demonstrar o recorrente processo de laceração, tortura e esmagamento sofrido pelo poeta nos recantos e espaços minados da urbe.
Voltando agora à prosa, e utilizando a qualificação de textos breves para os 78 instantes espalhados pelo livro, feito um disco de 78 rpm que girasse vagarosa e indefinidamente, justificando talvez o que o autor denominou “Visões em preto e branco para sax tenor”, é fácil constatar que tais instantes acham-se entremeados de citações sistemáticas de outros autores, resultando numa grande montagem que se adéqua, mais das vezes, às indagações, afirmações e negativas de Carrero quanto ao seu próprio processo criativo. Aí se verifica também a inserção paulatina dos três personagens que dão sustentáculo à narrativa.
A eterna peregrinação de Natalício, sempre com o saxofone debaixo do braço, a tocar para um público inexistente, personagem em “completo abandono”, músico mendigo, boêmio vagabundo e artista fracassado da ruas do Recife, mas que busca, através da música, ‘a melodia, a harmonia perfeita, o sonho completo’; a exegese aristocrática e decadente do professor Deusdete, um intelectual no sentido antigo, austero e conservador, leitor solitário e contumaz de poesia, que não escolhe ambiente para desfrutá-la nem fazer recitais, independentemente de quem ou do que o rodeia, pois ‘nada lhe interessa além dos livros’; o desajuste permanente de Virgínia, personagem de “trágica invenção”, imersa num vago e indefinido torpor, a pensar o tempo todo sobre o próprio destino, ‘uma mulher que procura o vazio na intimidade’. Virginia é aquela que se manterá virgem até o fim, preservando-se a qualquer custo, debatendo-se entre a perda dessa mesma virgindade e a necessidade de ‘sentir o prazer do sexo’, são esboços abreviados dos personagens de Sinfonia para vagabundos. Pode-se acrescer ainda que eles padecem de uma certa “perda de identidade” já o bastante difundida e banalizada sofrida pelo humano frente à vida e ao mundo, além da sensação de insignificância provocada por essa circunstância particular de o individuo ser apenas um número a mais no cômputo geral da grande massa humana que povoa cidades, países e continentes.
Os tempos verbais nos quais os personagens se movem no romance são também antecipados pelo ficcionista. O “movimento do estático” a que faz referência reflete uma interpenetração de efeitos da observação e da ação que interferem diretamente na construção do romance e dos personagens. E aqui torna-se necessária a utilização de uma certa liberdade conceitual do movimento, que é pertinente ao campo da Cinemática, uma das subdivisões da Física. O exemplo clássico para o tipo de movimento no qual estaria incluído o movimento do estático definido por Carrero é o “movimento relativo”, se se avaliar isto por um ângulo estrito e unilateral; o movimento relativo em Física seria, então, o movimento de pessoas ou objetos estáticos no interior de um “móvel” em relação a um observador externo a ambos.
Para fazer uma comparação inusitada, o observador, no caso em questão, viria a ser o próprio escritor que destece a trama e impulsiona a narrativa, sem muitas vezes dela(s) participar ativamente (quando, como na maioria das páginas deste livro, desloca a escrita para a 2ª ou 3ª pessoa) e as pessoas no interior do móvel os personagens. O romance representaria, nesse contexto, o móvel, cujo movimento se inaugura a partir da transcrição dos signos verbais que o compõem e o tornam em coisa viva, durante o acidentado percurso de sua elaboração e feitura.
É este, numa visada geral e de enfoque crítico rápido e parcial, o caos romanceado por Raimundo Carrero em Sinfonia para vagabundos. Um caos organizado, porém – justaposto com exatidão e critério em suas minúcias e detalhes exaustivos, em seus instantes, círculos, discursos, delírios e poemas, e ainda na transitação discreta e efêmera de seus personagens visualizados à luz obscura das ruas, bares, praças, bairros e avenidas da cidade do Recife.
(In: Jornal do Commercio, Caderno C, 28/05/1995; aqui, com pequenas alterações.)
UM POEMA DE NOEL TAVARES
O poeta e compositor Noel Tavares publicou, em 2009, seu segundo livro de poesia Andávia, em edição particular, com incentivo público. Os seus poemas falam preferencialmente de coisas cotidianas, terrenas, abrindo espaço também para o sentimento lírico, a revolta ante as injustiças sociais e a convivência familiar e fraterna. Contudo, no poema aqui escolhido, “Ode à cidade do Recife”, Tavares estabelece o seu campo de atuação urbano, ao cruzar as fronteiras marginais da cidade, ao adentrar as esquinas, ruelas, mercados e bares onde se fomentam as vivências precárias e diferenciadas dos esquecidos, dos desocupados e sem função social definida na grande máquina movida pelo sistema político-financeiro da cidade e do país. Faz referência a poetas pernambucanos como Manuel Bandeira e Carlos Pena Filho, parodiando-os. Pena Filho tem um longo poema sobre o Recife, que se situa historicamente a partir da criação da cidade, passando pela expulsão dos holandeses, até chegar ao nosso tempo, o Guia prático, onde costumes e hábitos são dissecados nos bairros centrais e nos subúrbios. É um canto que se rebela também com as vivências pequeno-burguesas da cidade, com a indiferença mostrada na relação com seus filhos, expulsando alguns deles para outras paragens. Tal como no poema de Noel Tavares, que aqui se transcreve:
Hoje, não cantarei o Recife de Manuel Bandeira,
o Recife da lira e das bandeiras liberais,
o Recife do chicote-queimado na rua da União,
do coelho; sai-não-sai, sai-não-sai.
O coelho sai? Não sai!
Hoje, cantarei o Recife das mulheres da vida
e desses homens marginais. O Recife dos loucos
que estendem as mãos e riem de si mesmos
como se fossem seres tão normais.
O Recife dos heróis, sem glória e sem nome,
cuja lista daria tranquilamente para encher as estantes
da Academia Real de Londres.
Hoje cantarei o Recife dos mangues, das palafitas,
das crianças exangues, que teimam em existir.
O Recife das crianças que andam sobre a lama
em busca de um siri.
Hoje, cantarei o Recife do: é melhor partir.
Mamãe, eu acho que vou para o Rio de Janeiro,
acho que lá não tem um rio que fede igual a esse aqui.
Mas o rio Capibaribe não escuta,
porque está preocupado em invadir a várzea
para desovar a miséria.
Recife é coisa séria! Às vezes, esquisito;
ás vezes, esquistossomose.
E enquanto um delira, o outro morre
sem saber do que, por que e para que.
E lá no bar Savoy, tantos de porre!
Lá no bar Savoy, onde o poeta Carlos Pena Filho
nunca disse: Recife, eu tenho pena de você.
Hoje cantarei o Recife das pontes,
mas não da família Pontes, nem Vieira, nem Freire
e nem Bandeira. Hoje cantarei o Recife das pontes,
entre a bastança do ter e do não ter.
O Recife dos mendigos, desses artistas de circo
Que saltam do trapézio pra morrer. Tampouco
cantarei o Recife de terno, do cinema moderno,
pois o filme real desta cidade não passa mais ali.
Cantarei o Recife das igrejas, da erva e da cerveja,
do porre e do xixi.
– E eu não quero ir pra Pasárgada.
Eu quero é ficar aqui!
POEMAS DA SÉRIE INÉDITA A OUTRA VOLTA DO SOL
A CANCELA
Nada consegue gemer mais
que uma velha cancela de sítio
solitária entre as cercas
de currais e riachos, baixios
nos barrancos e várzeas, veredas
da terra abandonada.
Ali a Cacimbinha rendeu-se
em morosidade e cansaço.
E já não há moradores,
os rios são barro e areia,
os animais desertaram
a outras furnas e pastos.
Ficaram apenas as mesmas
árvores destemerosas
da mão pesada do homem
na inconstância dos dias:
Pau-d’arco, quixaba, umbuzeiro
o juazeiro a braúna o angico
que jamais desprezaram a quem
as fez de mourão ou abrigo.
sábado, 20 de março de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XVII
POEMAS DA SÉRIE INÉDITA A OUTRA VOLTA DO SOL
ENCONTROS COM PINTO DO MONTEIRO
I
Encontrei Mestre Pinto
na Rua dos Guararapes
na casa onde viveu
por muito tempo em Sertânia.
Encontrei Mestre Pinto
entre os setenta e os oitenta
e o visitei muitas vezes
naqueles dias e anos.
Encontrei Mestre Pinto
de mesquinhez despojado,
sem esconder o seu jogo
de cantador ou dono de casa.
Encontrei Mestre Pinto
em lucidez malcriado
e o visitei outras vezes
naquele tempo em sua casa.
II
A recepção bem gentil,
o café não era amargo.
Para almoçar o convite
de pronto foi reforçado.
De um amigo querido
quis logo saber onde estava,
se na Argélia ou Recife,
ou quando por aqui aportava.
Miguel Arraes era o amigo
que Pinto admirava,
e que estava a caminho
do exílio para casa.
A Mestre Pinto eu disse
que pouco tempo faltava
para a chegada do Mito
por tanta gente esperada.
Sem contentar-se pediu
que sobre Arraes lhe mandasse
todo material e notícias
que porventura achasse.
Selei este compromisso
de manter sempre informado
o improvisador Severino,
poeta mais que arrojado.
III
A conversa muda de rumo,
em outra prosa entramos.
Falamos de roça e de chuva,
falamos da vida em Sertânia.
De cachaça que não combina
com a cantoria e a viola,
dos companheiros de Pinto
que passaram por sua escola.
Falamos sem muito siso
daqueles sem vocação,
que insistentes se arriscam
em cantar martelo e mourão.
Mestre Pinto era irônico
com fracos poetas do povo
e os de bancada erudita,
não tendo cabresto na boca.
A nenhum cantador perdoava
esse paraibano bravio,
nascido ali no Monteiro,
cidade a nós bem vizinha.
Amigo de João Furiba,
de Gato Velho lembrava,
colega dos irmãos Batista,
rasgos de lealdade guardava.
Mestre Severino Lourenço
da Silva Pinto não era
poeta pajeuzeiro.
Preferia ser conhecido
como de Sertânia e Monteiro.
Preferia o Moxotó e o Cariri
à Grécia auto-promovida
que é São José do Egito.
Mas cantou com Antônio Marinho,
Heleno Pinto e Catota.
Com Zé Pequeno fez disco,
mandou Milanês para outra.
Não desprezava os poetas
da região do Teixeira,
os nomes de Ugolino e Romano
e Inácio da Catingueira.
Desafiou Zé Faustino,
Hercílio Pinheiro e Cancão,
nunca mostrou-se mofino
em pagar o verso em baião.
IV
Pinto falou de uma viagem
em quarenta ao Amazonas,
para o combate à malária
deixando viola e Sertão.
Voltou depois de seis anos
e assumiu de vez seu destino
de circular pelas terras
que rima e metro lhe deram.
Antes de ser cantador
vaquejou na Paraíba.
E pouco tempo depois
sentou praça na polícia.
Levou-o a dura prisão
a briga com outro soldado,
mas com muita luta livrou-se
e não quis mais saber de farda.
Pinto falou sem mistério
de suas vivências passadas,
da juventude sem regras
e de confusões que arrumava.
Ninguém conhece detalhes
do nascimento de Pinto
na transição de dois séculos,
o dezenove e o vinte.
No Ceará, Paraíba,
Rio de Janeiro e São Paulo,
de Pernambuco à Bahia,
Rio Grande do Norte e Alagoas
e em mais cidades e estados,
pelo País espalhado
o seu repente certeiro
se deflagrou, floresceu.
Pinto em média viveu
noventa anos no mundo.
E o povo jamais esqueceu
do seu improviso profundo.
V
Encontrei Mestre Pinto
lendo ciência e história,
não dispensando a Bíblia
para cantar sem vanglória
o que aprendia dos livros.
Encontrei Mestre Pinto
tranquilo em seu reinado,
um velho revólver à cinta,
porque não abria parada
para malandro ou polícia.
Encontrei Mestre Pinto
e sua pisada era forte,
sua bengala atrevida,
destemeroso do corte
da traiçoeira parnaíba.
Encontrei Mestre Pinto
em lucidez malcriado,
e conversamos bastante,
e o visitei vezes sem conta,
naquele tempo em Sertânia.
ENCONTROS COM PINTO DO MONTEIRO
I
Encontrei Mestre Pinto
na Rua dos Guararapes
na casa onde viveu
por muito tempo em Sertânia.
Encontrei Mestre Pinto
entre os setenta e os oitenta
e o visitei muitas vezes
naqueles dias e anos.
Encontrei Mestre Pinto
de mesquinhez despojado,
sem esconder o seu jogo
de cantador ou dono de casa.
Encontrei Mestre Pinto
em lucidez malcriado
e o visitei outras vezes
naquele tempo em sua casa.
II
A recepção bem gentil,
o café não era amargo.
Para almoçar o convite
de pronto foi reforçado.
De um amigo querido
quis logo saber onde estava,
se na Argélia ou Recife,
ou quando por aqui aportava.
Miguel Arraes era o amigo
que Pinto admirava,
e que estava a caminho
do exílio para casa.
A Mestre Pinto eu disse
que pouco tempo faltava
para a chegada do Mito
por tanta gente esperada.
Sem contentar-se pediu
que sobre Arraes lhe mandasse
todo material e notícias
que porventura achasse.
Selei este compromisso
de manter sempre informado
o improvisador Severino,
poeta mais que arrojado.
III
A conversa muda de rumo,
em outra prosa entramos.
Falamos de roça e de chuva,
falamos da vida em Sertânia.
De cachaça que não combina
com a cantoria e a viola,
dos companheiros de Pinto
que passaram por sua escola.
Falamos sem muito siso
daqueles sem vocação,
que insistentes se arriscam
em cantar martelo e mourão.
Mestre Pinto era irônico
com fracos poetas do povo
e os de bancada erudita,
não tendo cabresto na boca.
A nenhum cantador perdoava
esse paraibano bravio,
nascido ali no Monteiro,
cidade a nós bem vizinha.
Amigo de João Furiba,
de Gato Velho lembrava,
colega dos irmãos Batista,
rasgos de lealdade guardava.
Mestre Severino Lourenço
da Silva Pinto não era
poeta pajeuzeiro.
Preferia ser conhecido
como de Sertânia e Monteiro.
Preferia o Moxotó e o Cariri
à Grécia auto-promovida
que é São José do Egito.
Mas cantou com Antônio Marinho,
Heleno Pinto e Catota.
Com Zé Pequeno fez disco,
mandou Milanês para outra.
Não desprezava os poetas
da região do Teixeira,
os nomes de Ugolino e Romano
e Inácio da Catingueira.
Desafiou Zé Faustino,
Hercílio Pinheiro e Cancão,
nunca mostrou-se mofino
em pagar o verso em baião.
IV
Pinto falou de uma viagem
em quarenta ao Amazonas,
para o combate à malária
deixando viola e Sertão.
Voltou depois de seis anos
e assumiu de vez seu destino
de circular pelas terras
que rima e metro lhe deram.
Antes de ser cantador
vaquejou na Paraíba.
E pouco tempo depois
sentou praça na polícia.
Levou-o a dura prisão
a briga com outro soldado,
mas com muita luta livrou-se
e não quis mais saber de farda.
Pinto falou sem mistério
de suas vivências passadas,
da juventude sem regras
e de confusões que arrumava.
Ninguém conhece detalhes
do nascimento de Pinto
na transição de dois séculos,
o dezenove e o vinte.
No Ceará, Paraíba,
Rio de Janeiro e São Paulo,
de Pernambuco à Bahia,
Rio Grande do Norte e Alagoas
e em mais cidades e estados,
pelo País espalhado
o seu repente certeiro
se deflagrou, floresceu.
Pinto em média viveu
noventa anos no mundo.
E o povo jamais esqueceu
do seu improviso profundo.
V
Encontrei Mestre Pinto
lendo ciência e história,
não dispensando a Bíblia
para cantar sem vanglória
o que aprendia dos livros.
Encontrei Mestre Pinto
tranquilo em seu reinado,
um velho revólver à cinta,
porque não abria parada
para malandro ou polícia.
Encontrei Mestre Pinto
e sua pisada era forte,
sua bengala atrevida,
destemeroso do corte
da traiçoeira parnaíba.
Encontrei Mestre Pinto
em lucidez malcriado,
e conversamos bastante,
e o visitei vezes sem conta,
naquele tempo em Sertânia.
quarta-feira, 17 de março de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XVI
BASTIDORES DA LUTA COMUNISTA NO BRASIL:
A MORTE DE ELZA, A GAROTA
O interesse pela história brasileira recente permite a aparição de textos de enfoque jornalístico, teor memorialista ou com inserções da narrativa romanceada. A partir de um ponto de inflexão escolhido historiadores, jornalistas e escritores podem elaborar a escrita dos acontecimentos às vezes encobertos e sem repercussão pública que se passaram numa década ou num século específicos. Neste sentido, um dos bons lançamentos de 2009 foi certamente Elza, a garota, apesar do subtítulo chamativo e sensacionalista, “A história da jovem comunista que o partido matou”. O livro do escritor mineiro Sérgio Rodrigues reúne jornalismo documental e ficção memorialística e histórica em dois andamentos distintos que às vezes se complementam.
O texto de Rodrigues ultrapassa o romance centrado preferencialmente no caráter histórico-biográfico de personagem única, pois não se trata apenas da vida de uma personagem eminente ou obscura, mas de várias personagens que foram eminentes por um tempo e se tornaram obscuras com o desenredo dos fatos políticos, ou vice-versa. Além de Elza Fernandes, cujo nome de batismo era Elvira Cupello Calônio, surge, no rol da mesma importância dada a ela, a figura de Miranda, secretário-geral do PCB (antigo Partido Comunista do Brasil), o baiano Antonio Maciel Bonfim, seu amante. Somando-se ao casal malogrado, irrompe com especial imponência o líder de todos que combatiam o varguismo nos anos de 1930, Luiz Carlos Prestes.
Para esmiuçar a morte injusta e desnecessária de Elza por enforcamento, provavelmente aos dezesseis anos, entre o final de fevereiro e o início de março de 1936, no grotesco âmbito de um pequeno e obscuro comitê comunista suburbano arranchado numa casa modesta no Rio de Janeiro, o autor recorreu a fontes múltiplas que residem na oralidade e nos arquivos e bibliotecas. A primeira requer o testemunho vivo, e aí foram convocados raros militantes de época e alguns historiadores. A segunda se realiza na busca paciente, que não se assombra com a falta ou o excesso de documentos. No caso em análise, a ausência de dados historiográficos levava a apenas uma versão do episódio, que era a dos interessados na propaganda anticomunista, refluindo ainda hoje em meios como a internet. O resenhista lembra que, quando adolescente, teve acesso, no colégio em que estudava, a um livreto apócrifo que falava exatamente sobre a morte de Elza Fernandes, com iconografia e relatos que sugeriam ter sido feitos por alguém de extrema direita.
O resenhista lembra também que, ao ler pela primeira vez Memórias do cárcere de Graciliano Ramos, a passagem devastadora sobre Miranda ficou inquietantemente marcada em seu pensamento, pois ali estava o máximo de desprezo a que um ser podia chegar a ter por outro, mesmo em termos escritos. O erro de Miranda teria sido o de acreditar, naquela fatídica década de 1930, a partir da possível participação dos comunistas locais na Internacional Comunista, numa revolução brasileira mais próxima do que os horizontes estreitados permitiam, do que a polícia de Getúlio Vargas e a militância nativa e tosca do PCB sugeriam. Situação que Vargas aproveitou ao máximo, como dispara o personagem Xerxes, lançando luz sobre o movimento: “Nunca teve chance real de vitória, ficou restrito a três ou quatro quartéis, foi ignorado pelo povo, fortaleceu Vargas, abriu caminho para a ditadura do Estado Novo, levou milhares de pessoas à cadeia, encheu as câmaras de tortura, esfacelou o Partido, deu à direita um estoque de lendas e bichos-papões para durar até o fim do século”.
Um acerto figadal de contas com a figura mitificada de Luiz Carlos Prestes se desenha no bloco ficcional, quando as memórias do velho comunista Xerxes vêm à tona. O tom romanesco adquire, com insistência notável em muitas passagens, o estatuto de relato histórico datado e com fartura de argumentos. Mas não há, aí, a obrigatoriedade documental que perfaz a metade jornalística. São as vidas do calejado e pretensioso Xerxes, do jornalista desempregado Molina, da sua namorada Camila em transitação urbana e dinâmica. E de todos aqueles que receberam um sopro de vida no fluxo da narrativa empreendida por Xerxes, que fala prodigiosamente até morrer. Um homem que guardava ressentimentos profundos, principalmente pelos algozes de Elza/Elvira. Os sete acusados dessa morte foram todos presos e condenados a 30 anos de prisão, inclusive Prestes, apontado como o mandante, tendo sido beneficiados com a anistia em 1945. Apaixonado por ela, Xerxes nutria, na mesma proporção, respeito e ódio por Miranda, que o teria ameaçado de morte por causa da garota. Em certo ponto da narrativa, um estratagema do autor em forma de citação serve para questionar se seria preferível alguém trair um amigo ou a pátria. A alusão a Prestes informa que este ousou trair o país em favor de um amigo, o Partido Comunista.
Digna de nota é a maneira brincalhona com que Sérgio Rodrigues passa a tratar, em ocasiões diversas, assuntos tidos como incômodos e sérios: a traição indesejada, a militância desnorteada e o justiçamento paranóico e inadiável pelos quadros comunistas. Ou a dúvida permanente que o jornalista instaura, mesmo com uma quantidade razoável de documentos e dados à mão. Sete décadas depois, quando a história já atropelou e cobriu com uma pá de cal numerosas experiências traumáticas, o mínimo que se poderia fazer era desencavá-las com a devida cautela e o necessário zelo requerido. É certo que houve um esfacelamento da esquerda em formação, em pleno processo de dissociação e desligamento do anarquismo pioneiro, a partir do malogro da Intentona Comunista. E que, trinta anos depois, com o endurecimento dos militares, tais experiências iriam dar continuidade aos tremendos prejuízos anteriores. Pensando-se no agora, a sequência ainda não foi desfeita, pois intenta-se massivamente a junção dos dois polos no bojo de alianças inimagináveis e na tentativa de descrédito ideológico tanto por elementos de um lado, que estão no seu papel conservador, como do outro, que padecem de excessivas ambições populistas para a conquista do poder a qualquer custo.
OSMAN LINS REVISITADO
Dois livros contendo ensaios sobre o escritor pernambucano Osman Lins e sua obra foram publicados por ocasião da passagem dos 80 anos de seu nascimento. Nascido em Vitória de Santo Antão, a 5 de julho de 1924, após a adolescência o autor de Avalovara passou o restante de sua vida entre o Recife e São Paulo, tendo feito algumas viagens ao exterior. Publicado pela UFPE, Vitral ao sol – ensaios sobre a obra de Osman Lins, com organização de Ermelinda Ferreira, reúne colaborações internas e externas à universidade, incluindo também depoimentos das filhas do escritor. Os textos trazem a empatia e a admiração de leitores especializados ou especialistas na obra osmaniana, que analisam a sua prosa em manifestações modelares como a ficção inicial, ligada ao regionalismo, e posteriormente sustentada nas descobertas e inovações estruturais mais independentes e arrojadas. É também analisada a ensaística dos “problemas inculturais brasileiros”. Mesmo o seu último trabalho, A cabeça levada em triunfo, inacabado, merece um ensaio da própria organizadora, onde se pode ler que, “sentindo-se próximo do fim de sua vida, Osman Lins, crítico de si mesmo, põe simbolicamente a cabeça a prêmio no seu romance inacabado, antecipando as decapitações futuras, os desmembramentos e esfacelamentos a que sua obra estaria sujeita com a sua partida”.
A ruptura dos limites entre a prosa e a poesia no texto osmaniano é enfatizada com rara argúcia por Lourival Holanda: “A prosa de grande densidade poética de Osman desfaz as fronteiras: porque seu sentido não se separa da musicalidade, de um certo ritmo, próprios da poesia, da melhor poesia”. Lourival é fundador do grupo de pesquisa Sol – Sodalício Osman Lins, que vem realizando encontros e eventos destinados ao estudo de literatura, e neste momento comemorativo mais específico, à obra de Osman Lins. Em Vitral ao sol podem ser lidos também textos inéditos em livro do próprio Osman, de enfoque mais jornalístico que acadêmico, onde se destacam, por exemplo, uma “homenagem à memória intelectual” do crítico Anatol Rosenfeld e uma análise comparativa das obras dos pintores pernambucanos Eliezer Xavier e Aloísio Magalhães.
Osman Lins – o sopro na argila, organizado pelo mineiro Hugo Almeida e publicado em São Paulo, pela Nankin Editorial, segue também a linhagem acadêmica. Do mesmo modo que em Vitral ao sol, alguns ensaios aparecem excessivamente carregados de citações de origens diversas e misturam a prosa acadêmica que se reivindica mais racional e pensada com os mais medíocres lugares comuns. A estética da recepção faz-se presente num texto da tradutora francesa Gaby Kirsch, que mapeia como se comportaram edições dos livros O fiel e a pedra, Nove, novena, Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia no Brasil, na França e na Alemanha, em termos de público, crítica e editores. Sandra Nitrini, responsável pelo arquivo de Osman Lins na USP, estuda um livro diferenciado em sua obra, Marinheiro de primeira viagem, que é um relato de uma viagem à Europa, escrito como prosa memorialística com entradas de ficção. Num bloco desta coletânea é avaliado ainda, sob enfoques diversos, Avalovara, e igualmente, noutro bloco, A rainha dos cárceres da Grécia. Comparecem também textos de nomes consagrados como Modesto Carone e José Paulo Paes, este último amigo de Osman e prefaciador de Avalovara.
Uma das exceções ao texto acadêmico é o depoimento de Lauro de Oliveira, outro participante do Sol, que foi amigo e colega de trabalho do romancista em instituição bancária, militando permanentemente na divulgação do seu nome e sua obra. Oliveira elabora uma espécie de minibiografia, contemplando aspectos vivenciais como a convivência no trabalho, em família e com intelectuais, a necessidade paralela de desenvolver o ofício literário e, em certos momentos, as profundas inquietações pessoais e éticas osmanianas.
(Continente, ano IV, nº 45, set. 2004; aqui, com pequenas alterações.)
POEMAS DA SÉRIE INÉDITA A OUTRA VOLTA DO SOL
OUTRA VISÃO DA CAATINGA
Sobre o chão secular da caatinga
o tempo parece dormir no silêncio
e na solidão que a tudo castiga
nesse mundo irrevelado e suspenso.
Ali há um sol vertical violento
que desvia o foco e ofusca a mira
dos gaviões que viajam sedentos
na lembrança de suas presas sem vida.
Nesse chão de granito e aspereza
um aboio prolongado ao longe seduz
o gado tangido com ânimo e destreza
no cantar de ouvido que o galope traduz.
Nesse chão pedregoso os rios são raros,
como escassa é a chuva que os alimenta.
O calor funde as rochas mais claras,
a poeira se espalha incendida ao vento.
terça-feira, 9 de março de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XV
CASTRO ALVES E O 14 DE MARÇO
Castros Alves foi o poeta romântico brasileiro por excelência, reunindo qualidades de dândi, inteligência precoce e inclinação poderosa para a poesia. Nasceu de boa família baiana, na fazenda Cabaceiras, a 49 km da vila de Curralinho: o pai médico de prestígio na Bahia, Dr. Antônio José Alves, e a mãe D. Clélia Brasília da Silva Castro, dona-de-casa, com o que isso implicava no século XIX, tendo de cuidar de filhos, parentes próximos, aderentes e agregados.
Orador entusiasmado, mas estudante mediano e boêmio, Castro Alves era, contudo, sensível às questões políticas do século 19. Adepto da República em oposição à Monarquia, combateu com veemência a exploração, o sujeitamento e a condição de mercadoria de troca que caracterizava os escravos, rusticamente leiloados pelos mercantilistas, capitães-do-mato, fazendeiros, políticos abastados e, não raro, gente da ordem religiosa.
Os dois textos republicados abaixo são de 1997, comemorativos dos 150 anos do nascimento do poeta. O esboço biográfico apareceu na Revista Arrecifes, anos 2000/2001, com o mesmo título, “Breve roteiro biográfico de Castro Alves. A revista integra as publicações do Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura do Recife. No ensaio crítico, que saiu no Suplemento Cultural da CEPE, ano X, março/1997, preservou-se também o mesmo título, mas obedecendo agora ao texto escrito originalmente pelo autor. Ambos publicados pelas mãos do escritor, jornalista e editor Mário Hélio. Em tributo ao poeta prematuramente falecido, o Dia Nacional da Poesia, comemorado anualmente em 14 de março, foi instituído para lembrar o dia do seu nascimento.
BREVE ROTEIRO BIOGRÁFICO DE CASTRO ALVES
Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na cidade baiana de Curralinho, hoje Castro Alves, a 14 de março de 1847. Fez os primeiros estudos em Salvador, transferindo-se posteriormente para o Recife, a fim de iniciar o curso de Direito. Desde uma remota infância, demonstrava uma inclinação especial para a poesia, participando de recitais e publicações escolares. Ele revelava uma precocidade que o levaria a ser considerado, no futuro, um dos maiores poetas brasileiros. A sua poesia divide-se em duas ramificações principais: de um lado, os poemas que privilegiam a lírica amorosa, e de outro, a poesia que tem como tema a liberdade em contraposição à escravidão.
Castro Alves lutou durante sua curta vida (viveu apenas 24 anos, que não chegaria a completar) pela libertação dos escravos e pela instauração da República em lugar da Monarquia. Também não chegaria a presenciar nenhum destes dois fatos históricos, pois a Abolição só viria a se concretizar em 1888 e a República um ano após.
Um dos poetas que mais admirava era o poeta romântico francês Victor Hugo, de quem sofreu uma grande influência, principalmente nos poemas em que Hugo fazia referência às lutas sociais do seu tempo. No Brasil, Castro Alves pertenceu à quarta e última geração do romantismo, movimento que seria substituído nas décadas finais do século 19 pelo simbolismo e parnasianismo.
Entre os livros mais importantes de Castro Alves destacam-se “Espumas flutuantes”, que apareceu em 1870, quando o poeta agonizava em Salvador, e “Os escravos”, publicado postumamente. “Navio Negreiro” é um dos poemas de “Os escravos” em que o poeta melhor relata o tráfico dos negros africanos, trazidos pelos mares atlânticos para o Brasil em condições inumanas, trancafiados em porões imundos de navios que se prestavam a essa atividade. E quando aportavam aqui, eram tidos e tratados como mercadoria pelos senhores de terras, pelo governo Imperial e por uma parcela de religiosos que mantinham escravos a seu serviço e sob seu poder.
Na poesia de Castro Alves, é constante a presença das mulheres. Ele teve vários relacionamentos amorosos, mas o de maior repercussão foi o que manteve com a atriz Eugênia Câmara, durante dois anos.
Outra característica do poeta era a sua vitalidade de orador, a eloquência que emprestava a suas aparições em público, fazendo vibrar plateias diferenciadas que se emocionavam ao ouvir os seus versos. Castro Alves viveu também por algum tempo em São Paulo, com a intenção de concluir o seu curso de Direito nesse estado, o que não foi possível, devido à fatalidade (um tiro no pé esquerdo, que gangrenou e teve de ser amputado, além da tuberculose de que padecia) que o levou à morte em 6 de julho de 1871.
RE-VISÃO CRÍTICA DE CASTRO ALVES
Numerosas têm sido as formas, atitudes e estratégias de abordagem e de análise crítica da obra poética de Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871). O ensaio especializado, a crítica valorativa e judicativa, o levantamento biográfico minucioso, o artigo emocionado e sem maiores pretensões, além do poema de homenagem são algumas dessas formas. Também a personalidade criadora do poeta vem sendo submetida a uma série de esquemas classificatórios prévios, que terminam por enquadrá-lo em nomeações diversificadas e deslocadas às vezes: poeta social, retórico, socialista, reformista, liberal, cósmico e ainda, a mais frequente delas, “poeta dos escravos”.
A organização da obra completa de Castro Alves, em dois volumes, coube primeiramente a Afrânio Peixoto em 1921 (a meio século da morte do poeta), e teve sucessivas edições, preservando a grafia original do autor e de época. A edição da poesia completa e da prosa castroalvina, em papel-bíblia e acrescida de textos que a edição de 1921 não continha, somente veio a público no Rio de Janeiro em 1960. O mapeamento investigativo dessa obra do século 19 para cá, no seu todo ou nas partes, demonstra que dela ocuparam-se autores de variadas orientações literárias – de Agripino Grieco a Jorge Amado, de José Paulo Paes a Antonio Candido e Alcides Villaça, entre uma leva de outros, contribuindo cada um deles, em poesia ou em prosa, ao acréscimo qualitativo do considerável acervo literário referencial do poeta romântico baiano. Neste sentido, ao intentar-se conferir um caráter de análise e valoração crítica a essa obra, levando-se em conta concepções e julgamentos anteriores ou atuais, e sem deixar de lado certas divergências fundamentais (quando não se mostrarem empobrecedoras, desgastantes ou inarticuladas em termos argumentativos), duas variantes poéticas expressivas saltam à vista. Tais variantes instauram-se no bojo de uma lírica que privilegia, de um lado, a esfera amorosa em si, e de outro, o desdobramento político-libertário sustentado em versos discursivos, “titânicos” e próprios à agitação, do jovem poeta militante das campanhas abolicionista e republicana.
A primeira variante referida, que tem seu alvo no desejo, estímulo ou evocação da mulher, ocupa um espaço privilegiado na vida e na poesia de Castro Alves. Ela oscila com freqüência entre a contemplação do tipo “purista” ou desesperançada em alguns poetas da tradição romântica, promovendo uma relação dimensionada apenas no plano incorpóreo e sensorial, gerando amores frustrados e infelizes. Mas no caso dele, a relação amorosa manifesta-se audaciosa e pronta para realizar-se no arrebatamento de sensualidades reprimidas, que logram sempre aflorar. O autor de “Espumas Flutuantes” (1870), não prescinde do contato amoroso e da realização sexual, como se pode inferir deste trecho do poema “Boa Noite”: “Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos/ Treme tua alma, como lira ao vento,/ Das teclas de teu seio que harmonias,/ Que escalas de suspiros, bebo atento!”. Em outro poema, “O ‘’adeus’ de Teresa” (parodiado por Manuel Bandeira em “Libertinagem”, livro de 1930, com o título “Teresa”, onde este introduz o “espírito romântico” em versos centrados na modernidade, demolidores das formas românticas usuais, mas com solução temática e finalização visivelmente derivadas de Murilo Mendes), pressente-se, num sussurrar ao ouvido ou numa saída de “alcova”, a sugestão seguida da consumação direta da relação sensual-erótica: “Uma noite... entreabriu-se um reposteiro.../ E da alcova saía um cavaleiro/ Inda beijando uma mulher sem véus.../ Era eu... Era a pálida Teresa!/ “Adeus!” lhe disse conservando-a presa...// E ela entre beijos murmurou-me: “adeus”. Um dos melhores exemplos daquela espécie de compulsão romântica, de teor mórbido e obsessivo, é certamente o poema “Ainda uma vez – adeus!” de Gonçalves Dias, escrito em 1855 após um encontro ocasional rápido e definidor que teve com sua musa maranhense em Portugal. O poema expressa um quê de inclinação platônica e contemplação embevecida, quando o poeta pousa o seu olhar refinado e ardente, embora repleto de queixas, tristeza e amargura, no rosto da amada à sua frente, contudo impossível, porque perdida para sempre.
Em 1865, quando começou a escrever os poemas de “Os escravos”, numa pequena casa na Rua do Lima, no subúrbio recifense de Santo Amaro, ele desfrutava da companhia de Idalina, prostituta adolescente e misteriosa com quem se realizava satisfatoriamente no ato amoroso, ensejando as primeiras manifestações de um amor livre, porém escandaloso para uma Recife onde o moço candidato a bacharel dava os seus primeiros passos na direção de uma carreira meteórica, consequente e vigorosa do ponto de vista político. O Recife representava também uma amostragem significativa de um país de senhores de terras e de escravos, de políticos truculentos e oportunistas, de estudantes turbulentos e impregnados do idealismo romântico libertário, de uma família imperial em lento processo de decadência e de uma massa da população em permanente estado de alerta e rebeldia.
No período de 1866 a 1868, esse tipo de relacionamento amoroso que se dava à margem da sociedade bem pensante, iria se repetir com mais força com a atriz Eugenia Câmara, sua paixão mais violenta, a quem vira pela primeira vez em 1863, e a partir de então passou a dedicar-lhe boa parte de seus poemas onde predomina a lírica amorosa.
De conformação diametralmente oposta foi a sua atração por Leonídia Fraga, iniciada na infância e retomada em 1864, no ambiente bucólico e tropical de Curralinho, hoje Castro Alves, sua cidade natal. Este primeiro amor foi o único que ele não desfrutou sexualmente, chegando a seu termo de forma trágica, quando essa musa sertaneja viria a enlouquecer após constatar a irreversibilidade da morte do poeta, nos últimos dois anos tísico e mutilado do pé esquerdo. A última mulher a quem o poeta amou foi a cantora Agnese Trinci Murri, de descendência italiana, para quem escreveu e dedicou versos até bem pouco antes de morrer em Salvador.
Outras variantes poéticas, relacionadas diretamente à persona do poeta, poderiam ser incrementadas nessa conjugação e aferição do romantismo. O tragicismo e a obsessão pela morte advindos do chamado “mal do século”, difundidos no mundo pelos poetas Alfred de Musset, Byron e Goethe, entre outros, não chegaria a afetar de uma maneira fatídica Castro Alves, que antes se identificava mais à sobriedade idealista, panfletária embora, de Victor Hugo, reconhecidamente a sua maior influência. A concepção do sujeito-poeta a partir do estigma condicionante de “gênio precoce, rebelde e incompreendido” (que enveredava frequentemente pela boemia desenfreada e pelo dandismo – em Álvares de Azevedo, morto aos vinte e um anos, mais imaginados do que experimentados), deslocando-o dos problemas de seu país e de sua gente, não seduziria também tão fortemente Castro Alves, de vez que não o afastou da vertente mais consequente e definidora da sua poesia, a libertária. No entanto, não podem passar aqui despercebidas duas exceções ao distanciamento de Castro Alves dessas vivências habituais do romantismo – o poema “Mocidade e morte”, de 1864, onde faz um prenúncio da morte próxima que o espera: “E eu sei que vou morrer... dentro em meu peito/ Um mal terrível me devora a vida”, – e as noitadas boêmias, no melhor estilo byroniano, que o absorveram por algum tempo em São Paulo, após o rompimento com Eugênia Câmara.
Faz-se aqui pertinente a interpelação a ele dirigida por Pablo Neruda em torno das motivações poéticas externas ou interiores que o impulsionaram, e a quem se destinava o seu canto, num poema do “Canto Geral” (1949), incluso na seção “Os Libertadores”: “Castro Alves do Brasil, para quem cantaste?”. É um Castro Alves subliminar e ocultado quem responde, numa montagem aleatória e fragmentária nossa, de versos e estrofes que ele mesmo poderia ter cometido: “Cantei para os escravos (...) contra a mão que empunhava o chicote (...) e era minha a única voz que enchia o silêncio”. Neruda encarna a voz altissonante de Castro Alves, juntando-se a este na amoldagem de uma vertente “retórica” de certas facções da poesia americana. De todo modo, o poema enseja um diálogo que se processa no plano da transfiguração criadora, permitida entre “eus” que se afinam poeticamente. E embora de conformação circunstancial evidente, o poema reflete também outro tipo de diálogo bastante sugestivo, agora no campo político: o diálogo que se realiza através da poesia, entre o poeta comunista dos nossos dias (Neruda morreu em 1973) e o nosso poeta social dos Oitocentos.
A perspectiva de uma poesia social engendrada e desenvolvida por Castro Alves, prevê uma compulsão poética que se realiza ao nível de uma estética romântica peculiar, articulada as mais das vezes diferentemente de outros poetas românticos. O seu núcleo contestatório volta-se diretamente à sensibilidade nacional sequiosa de justiça e liberdade. A causa revolucionária da transformação social é assumida nas metáforas exaltadas de um poema como “Ode ao Dous de Julho”, escrito em função da independência da Bahia, somente alcançada em 2 de julho de 1823, devido à forte reação dos portugueses que ali se instalaram e que teimavam em não reconhecer essa independência, quando a Bahia organizou a resistência e o combate travou-se com derramamento de sangue de ambos os lados; em “Pedro Ivo”, poema gerado no eco das lutas da revolução Praieira em Pernambuco (1848/1849), deflagrada quando o poeta ainda estava de berço, na qual o líder Pedro Ivo encarna um personagem que ensaia um confronto direto e ostensivo com o Imperador Pedro II; no drama “Gonzaga ou A Revolução de Minas”, escrito aos vinte anos, que abraçava a temática óbvia da Inconfidência Mineira; e ainda no poema “Adeus, meu canto!”, em versos prenunciadores e propagadores do sentimento radicalmente aliado das revoltas populares sempre iminentes: “Um dia passa em minh’alma/ Das cidades o rumor./ Soa a idéia, soa o malho,/ O ciclope do trabalho,/ Prepara o raio do sol./ Tem o povo – mar violento –/ Por armas o pensamento,/ A verdade por farol”’.
A causa escravista presentifica-se nas metáforas “condoreiras” flagrantes em poemas do feitio de “Navio Negreiro” e “Vozes D’África”. Nestes dois poemas, a idealização libertária e o “sonho americano” do poeta transportavam-se para os mares atlânticos, onde escravos eram traficados e sujeitos a sofrimentos e provações inimagináveis, embalados ora pela calma ora pela violência de ventos e tempestades. Em tais viagens, confinados em porões imundos de navios, os escravos não poderiam sequer acompanhar de longe – e talvez guardar para um futuro próximo entrevisto pelo poeta – a visão cosmogônica e alegórica da liberdade, simbolizada pelo voo do pássaro andino, o Condor.
O exame de componentes formalísticos na obra de Castro Alves sinaliza para o manuseio geral das “formas poéticas” mais comuns e convencionais ao romantismo, por sua vez derivadas em parte – ou mesmo distanciando-se em outros momentos – de um classicismo que estava a agonizar desde o início do século 19, em consequência do movimento poético “novo” e do espírito revolucionário que se insurgia com a escola romântica, tendência que já vinha sendo esboçada desde as últimas décadas do século 18 na Europa.
“Sub tegmine fagi” (“À sombra das árvores”) é um poema de quinze estrofes contendo seis versos cada, informado por pausas e elevações de tom recorrentes na elaboração do estilo desse poeta, e que evoluem numa métrica regular e cadenciada, alternando dois decassílabos de rimas emparelhadas com uma sextilha, somados a mais dois decassílabos fechando com outra sextilha que rima com a anterior. Estas rimas nem sempre aparecem uniformizadas ao largo do poema, e são exemplos disto a diferenciação de efeitos sonoros de pronunciação (belas/ estrelas, céu/ pendeu), ou de esquemas fonéticos adaptados, nem sempre com sucesso, para a amarração sonora das últimas sílabas dos versos (pérolas/cérulas, Hugo/fixou, luz/flux). Efeitos estilísticos comuns à poética castroalvina podem ser rastreados no excesso de reticências e exclamações, no grande núcleo gerador de palavras ocorrentes no plural, além de figuras de retórica como antíteses, hipérboles, sinestesias e ressonâncias.
No início e no desfecho do poema, de forma circular, ele faz um apelo ao “amigo” para que empreendam juntos um passeio pelo campo, na companhia de um “Deus” onipresente, que se manifesta como o “Grande Pai”, sábio, protetor e severo, quando todos estão recolhidos: “Amigo, o campo é o ninho do poeta.../ Deus fala, quando a turba está quieta,/ Às campinas em flor” (...) A alma fica melhor no descampado.../ O pensamento indômito, arrojado/ Galopa no sertão (...) Vem! Do mundo leremos o problema/ Nas flores da floresta ou do poema,/ Nas trevas ou na luz”’.
Fazem parte do poema referências diretas a poetas da predileção de Castro Alves – Hugo, Dante e Virgílio. Do primeiro, é flagrante e exagerado o elogio: “– Mestre do mundo! Sol da eternidade!.../ Para ter por planeta a humanidade,/ Deus num cerro o fixou”. De Dante, recolhe uma linguagem de empréstimo, apropriando-se textualmente de expressões bastante conhecidas, a exemplo de “floresta densa” ou “selva escura”. O entusiasmo que a contemplação da Natureza lhe incita, exerce um efeito de estranhamento contrastante com o modo celebrativo, plácido e aplacado como até então vinha tratando do assunto, quando se refere a Virgílio: “Mundo estranho e bizarro da quimera,/ A fantasia desvairada gera/ Um paganismo aqui./ Melhor eu compreendo então Virgílio.../ E os faunos lhe vendo a dançar no idílio/ Murmuro crente: - eu vi!”.
O enfoque temático se desloca do jogo amoroso e do condoreirismo retumbante, numa inevitável ruptura que vai incidir sobre a múltipla tematização homem-arte-natureza-divindade. Deste modo, é revelada a profissão de fé do poeta e a celebração de uma poesia localista e ao mesmo tempo cósmica, além da ocorrência de uma estética que absorve a lição de religiosidade peculiar a um dos primeiros poetas românticos brasileiros, Gonçalves de Magalhães.
Um poeta de envergadura épica e cosmopolita, considerado um caso à parte no romantismo brasileiro, pertencendo cronologicamente à terceira geração deste movimento, precedendo portanto Castro Alves de uma geração, foi o maranhense Joaquim de Sousa Andrade, o Sousândrade (1833-1902). Autor de “Guesa Errante” (1866) e “Novo Éden (1893), serviu-se de recursos estilísticos, sintáticos e formais os mais avançados, improváveis e inventivos para o tempo, haja vista as construções poéticas inusitadas, a síntese vocabular maximizada ao extremo, os jogos, experimentações e junções de palavras que são marcas inconfundíveis de sua poesia. A poesia de Sousândrade tem suas origens em fontes tão heterogêneas quanto estranhas ao mundo limitado e provinciano do país à época, contribuindo para isso a formação do poeta em países como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França e a imensa cultura adquirida em leituras de primeira mão.
Excluído por muitos anos da cena literária nacional, da historiografia literária oficial e das antologias escolares, pelos segmentos mais retrógrados de uma crítica desleal e indigente, que sumariamente o ignorava, quando não mais incompetente para avaliá-lo, foi recuperado e posto em evidência em dias recentes pelo esforço diligente de Augusto e Haroldo de Campos, tendo sido relançado em pelo menos dois livros: “Sousândrade - Poesia”, Rio de Janeiro, 1966 e “Re/Visão de Sousândrade”, São Paulo, 1964 e 1982.
Apesar do seu engajamento nas fileiras republicanas, e de escrever versos de temática escravista nas “Harpas Selvagens” (1857), não logrou tornar-se um poeta popular, em virtude da dificuldade que demonstrava, e mesmo ainda hoje demonstra, de ser lido, e neste sentido está em franca desvantagem relativamente a Castro Alves.
A relação entre estes dois poetas configura-se tumultuária e desconcertante, de vez que o único ponto de convergência entre eles reside no plano estreito da tematização do escravismo e das lutas abolicionistas, e em alguns poemas de motivação lírica amorosa. Mas, mesmo nestes pontos, está implícita uma dissonância expressiva e formal evidente - Castro Alves prefere a grandiloquência dos versos oratórios e emancipacionistas, afincados ao modelo estético da escola condoreira, enquanto que Sousândrade exerce uma supremacia inconteste na dimensão formalística, o que lhe garantiu a posição destacada, no Brasil, de antecipador do movimento gerador do modernismo de 22.
A poesia que fez de Castro Alves um poeta conhecido e admirado no país inteiro durante sua vida trágica e encurtada precocemente, era bastante rica em experiências cotidianas no trato com a luta pela liberdade e com o amor das mulheres. Esta poesia propõe soluções, aponta caminhos e não está desvestida também de possíveis defeitos e incompletudes. Apresentam-se como defeitos a proliferação e a repetição desordenadas de elementos naturais, etéreos ou terra-a-terra, mitológicos ou místicos, que se alternam com insistência e contumácia, funcionando em imagens superpostas de mares revoltos, pássaros exóticos, céus escuros e tufões irados, notadamente nos poemas escravistas.
Hoje talvez não resultasse adequada certa instrumentação poética por ele utilizada naqueles dias, diante agora de um mais fragmentário, fragilizado e pouco decantado “gosto popular”. O imaginário coletivo brasileiro não possui, desse ângulo, parâmetros de referência cultural que o identifiquem a elementos artísticos e poéticos, estranhos à realidade batida do dia-a-dia, como os elementos fundadores das mitologias grega e romana, das literaturas francesa, alemã ou inglesa.
Pode-se afirmar com certa margem de acerto que nada disso intimidou a gente dos Oitocentos, quando se pensa na força “retórica” comunicativa e convincente dos recitais do jovem e inflamado poeta. Uma força desse tipo, que se exprimia no plano da emotividade e da pregação emancipacionista, reafirmava-se constantemente em palcos e sacadas de teatros do Recife, de São Paulo ou de Salvador (lembre-se aqui as polêmicas mantidas com Tobias Barreto no Teatro Santa Isabel, no Recife – Castro Alves fazia a defesa de Eugênia Câmara, enquanto que Tobias Barreto improvisava em favor de outra atriz, Adelaide do Amaral, ambos disputando ainda a liderança da escola condoreira, situados em polos opostos que estavam quanto à equação dialética excludente revolucionarismo vs. oportunidade.), no glamour de salões burgueses, nas praças públicas e meetings, e na difusão oral generosa e desinteressada de uma vasta porção das camadas populares.
Tido o nosso poeta como o poeta mais lido e declamado no seu tempo, e mesmo em décadas posteriores, ele praticava uma poesia de versos calcados no antagonismo radical à opressão escravista – extinta em 1888, dezessete anos depois da sua morte – e no combate ao regime monárquico do Segundo Império, iniciado em 1840 com o golpe da maioridade do príncipe Pedro II e alcançando um êxito relativo de 1850 a 1860, mas logo após começando a declinar irremediavelmente. Esse regime, apesar de todas as lutas internas e externas que explodiam dentro e fora do Brasil, se estenderia até 1889, quando foi finalmente substituído pela República. Assim, Castro Alves terá um dia antecipado o seu alerta indignado ao “sátrapa arrogante” e o seu apelo patético ao “Senhor Deus dos desgraçados”. Terá circunscrito ali também a sua “mensagem libertadora” no encerramento de um ciclo histórico conturbado e complexo, prestes a arrefecer valentias, engodos e empáfias triunfalistas. E deixará demarcada ainda, num auto de fé e guerra, sem retorno ou remissão possíveis, a consumação dos últimos suspiros, ademanes e revoltas de uma época.
Castros Alves foi o poeta romântico brasileiro por excelência, reunindo qualidades de dândi, inteligência precoce e inclinação poderosa para a poesia. Nasceu de boa família baiana, na fazenda Cabaceiras, a 49 km da vila de Curralinho: o pai médico de prestígio na Bahia, Dr. Antônio José Alves, e a mãe D. Clélia Brasília da Silva Castro, dona-de-casa, com o que isso implicava no século XIX, tendo de cuidar de filhos, parentes próximos, aderentes e agregados.
Orador entusiasmado, mas estudante mediano e boêmio, Castro Alves era, contudo, sensível às questões políticas do século 19. Adepto da República em oposição à Monarquia, combateu com veemência a exploração, o sujeitamento e a condição de mercadoria de troca que caracterizava os escravos, rusticamente leiloados pelos mercantilistas, capitães-do-mato, fazendeiros, políticos abastados e, não raro, gente da ordem religiosa.
Os dois textos republicados abaixo são de 1997, comemorativos dos 150 anos do nascimento do poeta. O esboço biográfico apareceu na Revista Arrecifes, anos 2000/2001, com o mesmo título, “Breve roteiro biográfico de Castro Alves. A revista integra as publicações do Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura do Recife. No ensaio crítico, que saiu no Suplemento Cultural da CEPE, ano X, março/1997, preservou-se também o mesmo título, mas obedecendo agora ao texto escrito originalmente pelo autor. Ambos publicados pelas mãos do escritor, jornalista e editor Mário Hélio. Em tributo ao poeta prematuramente falecido, o Dia Nacional da Poesia, comemorado anualmente em 14 de março, foi instituído para lembrar o dia do seu nascimento.
BREVE ROTEIRO BIOGRÁFICO DE CASTRO ALVES
Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na cidade baiana de Curralinho, hoje Castro Alves, a 14 de março de 1847. Fez os primeiros estudos em Salvador, transferindo-se posteriormente para o Recife, a fim de iniciar o curso de Direito. Desde uma remota infância, demonstrava uma inclinação especial para a poesia, participando de recitais e publicações escolares. Ele revelava uma precocidade que o levaria a ser considerado, no futuro, um dos maiores poetas brasileiros. A sua poesia divide-se em duas ramificações principais: de um lado, os poemas que privilegiam a lírica amorosa, e de outro, a poesia que tem como tema a liberdade em contraposição à escravidão.
Castro Alves lutou durante sua curta vida (viveu apenas 24 anos, que não chegaria a completar) pela libertação dos escravos e pela instauração da República em lugar da Monarquia. Também não chegaria a presenciar nenhum destes dois fatos históricos, pois a Abolição só viria a se concretizar em 1888 e a República um ano após.
Um dos poetas que mais admirava era o poeta romântico francês Victor Hugo, de quem sofreu uma grande influência, principalmente nos poemas em que Hugo fazia referência às lutas sociais do seu tempo. No Brasil, Castro Alves pertenceu à quarta e última geração do romantismo, movimento que seria substituído nas décadas finais do século 19 pelo simbolismo e parnasianismo.
Entre os livros mais importantes de Castro Alves destacam-se “Espumas flutuantes”, que apareceu em 1870, quando o poeta agonizava em Salvador, e “Os escravos”, publicado postumamente. “Navio Negreiro” é um dos poemas de “Os escravos” em que o poeta melhor relata o tráfico dos negros africanos, trazidos pelos mares atlânticos para o Brasil em condições inumanas, trancafiados em porões imundos de navios que se prestavam a essa atividade. E quando aportavam aqui, eram tidos e tratados como mercadoria pelos senhores de terras, pelo governo Imperial e por uma parcela de religiosos que mantinham escravos a seu serviço e sob seu poder.
Na poesia de Castro Alves, é constante a presença das mulheres. Ele teve vários relacionamentos amorosos, mas o de maior repercussão foi o que manteve com a atriz Eugênia Câmara, durante dois anos.
Outra característica do poeta era a sua vitalidade de orador, a eloquência que emprestava a suas aparições em público, fazendo vibrar plateias diferenciadas que se emocionavam ao ouvir os seus versos. Castro Alves viveu também por algum tempo em São Paulo, com a intenção de concluir o seu curso de Direito nesse estado, o que não foi possível, devido à fatalidade (um tiro no pé esquerdo, que gangrenou e teve de ser amputado, além da tuberculose de que padecia) que o levou à morte em 6 de julho de 1871.
RE-VISÃO CRÍTICA DE CASTRO ALVES
Numerosas têm sido as formas, atitudes e estratégias de abordagem e de análise crítica da obra poética de Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871). O ensaio especializado, a crítica valorativa e judicativa, o levantamento biográfico minucioso, o artigo emocionado e sem maiores pretensões, além do poema de homenagem são algumas dessas formas. Também a personalidade criadora do poeta vem sendo submetida a uma série de esquemas classificatórios prévios, que terminam por enquadrá-lo em nomeações diversificadas e deslocadas às vezes: poeta social, retórico, socialista, reformista, liberal, cósmico e ainda, a mais frequente delas, “poeta dos escravos”.
A organização da obra completa de Castro Alves, em dois volumes, coube primeiramente a Afrânio Peixoto em 1921 (a meio século da morte do poeta), e teve sucessivas edições, preservando a grafia original do autor e de época. A edição da poesia completa e da prosa castroalvina, em papel-bíblia e acrescida de textos que a edição de 1921 não continha, somente veio a público no Rio de Janeiro em 1960. O mapeamento investigativo dessa obra do século 19 para cá, no seu todo ou nas partes, demonstra que dela ocuparam-se autores de variadas orientações literárias – de Agripino Grieco a Jorge Amado, de José Paulo Paes a Antonio Candido e Alcides Villaça, entre uma leva de outros, contribuindo cada um deles, em poesia ou em prosa, ao acréscimo qualitativo do considerável acervo literário referencial do poeta romântico baiano. Neste sentido, ao intentar-se conferir um caráter de análise e valoração crítica a essa obra, levando-se em conta concepções e julgamentos anteriores ou atuais, e sem deixar de lado certas divergências fundamentais (quando não se mostrarem empobrecedoras, desgastantes ou inarticuladas em termos argumentativos), duas variantes poéticas expressivas saltam à vista. Tais variantes instauram-se no bojo de uma lírica que privilegia, de um lado, a esfera amorosa em si, e de outro, o desdobramento político-libertário sustentado em versos discursivos, “titânicos” e próprios à agitação, do jovem poeta militante das campanhas abolicionista e republicana.
A primeira variante referida, que tem seu alvo no desejo, estímulo ou evocação da mulher, ocupa um espaço privilegiado na vida e na poesia de Castro Alves. Ela oscila com freqüência entre a contemplação do tipo “purista” ou desesperançada em alguns poetas da tradição romântica, promovendo uma relação dimensionada apenas no plano incorpóreo e sensorial, gerando amores frustrados e infelizes. Mas no caso dele, a relação amorosa manifesta-se audaciosa e pronta para realizar-se no arrebatamento de sensualidades reprimidas, que logram sempre aflorar. O autor de “Espumas Flutuantes” (1870), não prescinde do contato amoroso e da realização sexual, como se pode inferir deste trecho do poema “Boa Noite”: “Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos/ Treme tua alma, como lira ao vento,/ Das teclas de teu seio que harmonias,/ Que escalas de suspiros, bebo atento!”. Em outro poema, “O ‘’adeus’ de Teresa” (parodiado por Manuel Bandeira em “Libertinagem”, livro de 1930, com o título “Teresa”, onde este introduz o “espírito romântico” em versos centrados na modernidade, demolidores das formas românticas usuais, mas com solução temática e finalização visivelmente derivadas de Murilo Mendes), pressente-se, num sussurrar ao ouvido ou numa saída de “alcova”, a sugestão seguida da consumação direta da relação sensual-erótica: “Uma noite... entreabriu-se um reposteiro.../ E da alcova saía um cavaleiro/ Inda beijando uma mulher sem véus.../ Era eu... Era a pálida Teresa!/ “Adeus!” lhe disse conservando-a presa...// E ela entre beijos murmurou-me: “adeus”. Um dos melhores exemplos daquela espécie de compulsão romântica, de teor mórbido e obsessivo, é certamente o poema “Ainda uma vez – adeus!” de Gonçalves Dias, escrito em 1855 após um encontro ocasional rápido e definidor que teve com sua musa maranhense em Portugal. O poema expressa um quê de inclinação platônica e contemplação embevecida, quando o poeta pousa o seu olhar refinado e ardente, embora repleto de queixas, tristeza e amargura, no rosto da amada à sua frente, contudo impossível, porque perdida para sempre.
Em 1865, quando começou a escrever os poemas de “Os escravos”, numa pequena casa na Rua do Lima, no subúrbio recifense de Santo Amaro, ele desfrutava da companhia de Idalina, prostituta adolescente e misteriosa com quem se realizava satisfatoriamente no ato amoroso, ensejando as primeiras manifestações de um amor livre, porém escandaloso para uma Recife onde o moço candidato a bacharel dava os seus primeiros passos na direção de uma carreira meteórica, consequente e vigorosa do ponto de vista político. O Recife representava também uma amostragem significativa de um país de senhores de terras e de escravos, de políticos truculentos e oportunistas, de estudantes turbulentos e impregnados do idealismo romântico libertário, de uma família imperial em lento processo de decadência e de uma massa da população em permanente estado de alerta e rebeldia.
No período de 1866 a 1868, esse tipo de relacionamento amoroso que se dava à margem da sociedade bem pensante, iria se repetir com mais força com a atriz Eugenia Câmara, sua paixão mais violenta, a quem vira pela primeira vez em 1863, e a partir de então passou a dedicar-lhe boa parte de seus poemas onde predomina a lírica amorosa.
De conformação diametralmente oposta foi a sua atração por Leonídia Fraga, iniciada na infância e retomada em 1864, no ambiente bucólico e tropical de Curralinho, hoje Castro Alves, sua cidade natal. Este primeiro amor foi o único que ele não desfrutou sexualmente, chegando a seu termo de forma trágica, quando essa musa sertaneja viria a enlouquecer após constatar a irreversibilidade da morte do poeta, nos últimos dois anos tísico e mutilado do pé esquerdo. A última mulher a quem o poeta amou foi a cantora Agnese Trinci Murri, de descendência italiana, para quem escreveu e dedicou versos até bem pouco antes de morrer em Salvador.
Outras variantes poéticas, relacionadas diretamente à persona do poeta, poderiam ser incrementadas nessa conjugação e aferição do romantismo. O tragicismo e a obsessão pela morte advindos do chamado “mal do século”, difundidos no mundo pelos poetas Alfred de Musset, Byron e Goethe, entre outros, não chegaria a afetar de uma maneira fatídica Castro Alves, que antes se identificava mais à sobriedade idealista, panfletária embora, de Victor Hugo, reconhecidamente a sua maior influência. A concepção do sujeito-poeta a partir do estigma condicionante de “gênio precoce, rebelde e incompreendido” (que enveredava frequentemente pela boemia desenfreada e pelo dandismo – em Álvares de Azevedo, morto aos vinte e um anos, mais imaginados do que experimentados), deslocando-o dos problemas de seu país e de sua gente, não seduziria também tão fortemente Castro Alves, de vez que não o afastou da vertente mais consequente e definidora da sua poesia, a libertária. No entanto, não podem passar aqui despercebidas duas exceções ao distanciamento de Castro Alves dessas vivências habituais do romantismo – o poema “Mocidade e morte”, de 1864, onde faz um prenúncio da morte próxima que o espera: “E eu sei que vou morrer... dentro em meu peito/ Um mal terrível me devora a vida”, – e as noitadas boêmias, no melhor estilo byroniano, que o absorveram por algum tempo em São Paulo, após o rompimento com Eugênia Câmara.
Faz-se aqui pertinente a interpelação a ele dirigida por Pablo Neruda em torno das motivações poéticas externas ou interiores que o impulsionaram, e a quem se destinava o seu canto, num poema do “Canto Geral” (1949), incluso na seção “Os Libertadores”: “Castro Alves do Brasil, para quem cantaste?”. É um Castro Alves subliminar e ocultado quem responde, numa montagem aleatória e fragmentária nossa, de versos e estrofes que ele mesmo poderia ter cometido: “Cantei para os escravos (...) contra a mão que empunhava o chicote (...) e era minha a única voz que enchia o silêncio”. Neruda encarna a voz altissonante de Castro Alves, juntando-se a este na amoldagem de uma vertente “retórica” de certas facções da poesia americana. De todo modo, o poema enseja um diálogo que se processa no plano da transfiguração criadora, permitida entre “eus” que se afinam poeticamente. E embora de conformação circunstancial evidente, o poema reflete também outro tipo de diálogo bastante sugestivo, agora no campo político: o diálogo que se realiza através da poesia, entre o poeta comunista dos nossos dias (Neruda morreu em 1973) e o nosso poeta social dos Oitocentos.
A perspectiva de uma poesia social engendrada e desenvolvida por Castro Alves, prevê uma compulsão poética que se realiza ao nível de uma estética romântica peculiar, articulada as mais das vezes diferentemente de outros poetas românticos. O seu núcleo contestatório volta-se diretamente à sensibilidade nacional sequiosa de justiça e liberdade. A causa revolucionária da transformação social é assumida nas metáforas exaltadas de um poema como “Ode ao Dous de Julho”, escrito em função da independência da Bahia, somente alcançada em 2 de julho de 1823, devido à forte reação dos portugueses que ali se instalaram e que teimavam em não reconhecer essa independência, quando a Bahia organizou a resistência e o combate travou-se com derramamento de sangue de ambos os lados; em “Pedro Ivo”, poema gerado no eco das lutas da revolução Praieira em Pernambuco (1848/1849), deflagrada quando o poeta ainda estava de berço, na qual o líder Pedro Ivo encarna um personagem que ensaia um confronto direto e ostensivo com o Imperador Pedro II; no drama “Gonzaga ou A Revolução de Minas”, escrito aos vinte anos, que abraçava a temática óbvia da Inconfidência Mineira; e ainda no poema “Adeus, meu canto!”, em versos prenunciadores e propagadores do sentimento radicalmente aliado das revoltas populares sempre iminentes: “Um dia passa em minh’alma/ Das cidades o rumor./ Soa a idéia, soa o malho,/ O ciclope do trabalho,/ Prepara o raio do sol./ Tem o povo – mar violento –/ Por armas o pensamento,/ A verdade por farol”’.
A causa escravista presentifica-se nas metáforas “condoreiras” flagrantes em poemas do feitio de “Navio Negreiro” e “Vozes D’África”. Nestes dois poemas, a idealização libertária e o “sonho americano” do poeta transportavam-se para os mares atlânticos, onde escravos eram traficados e sujeitos a sofrimentos e provações inimagináveis, embalados ora pela calma ora pela violência de ventos e tempestades. Em tais viagens, confinados em porões imundos de navios, os escravos não poderiam sequer acompanhar de longe – e talvez guardar para um futuro próximo entrevisto pelo poeta – a visão cosmogônica e alegórica da liberdade, simbolizada pelo voo do pássaro andino, o Condor.
O exame de componentes formalísticos na obra de Castro Alves sinaliza para o manuseio geral das “formas poéticas” mais comuns e convencionais ao romantismo, por sua vez derivadas em parte – ou mesmo distanciando-se em outros momentos – de um classicismo que estava a agonizar desde o início do século 19, em consequência do movimento poético “novo” e do espírito revolucionário que se insurgia com a escola romântica, tendência que já vinha sendo esboçada desde as últimas décadas do século 18 na Europa.
“Sub tegmine fagi” (“À sombra das árvores”) é um poema de quinze estrofes contendo seis versos cada, informado por pausas e elevações de tom recorrentes na elaboração do estilo desse poeta, e que evoluem numa métrica regular e cadenciada, alternando dois decassílabos de rimas emparelhadas com uma sextilha, somados a mais dois decassílabos fechando com outra sextilha que rima com a anterior. Estas rimas nem sempre aparecem uniformizadas ao largo do poema, e são exemplos disto a diferenciação de efeitos sonoros de pronunciação (belas/ estrelas, céu/ pendeu), ou de esquemas fonéticos adaptados, nem sempre com sucesso, para a amarração sonora das últimas sílabas dos versos (pérolas/cérulas, Hugo/fixou, luz/flux). Efeitos estilísticos comuns à poética castroalvina podem ser rastreados no excesso de reticências e exclamações, no grande núcleo gerador de palavras ocorrentes no plural, além de figuras de retórica como antíteses, hipérboles, sinestesias e ressonâncias.
No início e no desfecho do poema, de forma circular, ele faz um apelo ao “amigo” para que empreendam juntos um passeio pelo campo, na companhia de um “Deus” onipresente, que se manifesta como o “Grande Pai”, sábio, protetor e severo, quando todos estão recolhidos: “Amigo, o campo é o ninho do poeta.../ Deus fala, quando a turba está quieta,/ Às campinas em flor” (...) A alma fica melhor no descampado.../ O pensamento indômito, arrojado/ Galopa no sertão (...) Vem! Do mundo leremos o problema/ Nas flores da floresta ou do poema,/ Nas trevas ou na luz”’.
Fazem parte do poema referências diretas a poetas da predileção de Castro Alves – Hugo, Dante e Virgílio. Do primeiro, é flagrante e exagerado o elogio: “– Mestre do mundo! Sol da eternidade!.../ Para ter por planeta a humanidade,/ Deus num cerro o fixou”. De Dante, recolhe uma linguagem de empréstimo, apropriando-se textualmente de expressões bastante conhecidas, a exemplo de “floresta densa” ou “selva escura”. O entusiasmo que a contemplação da Natureza lhe incita, exerce um efeito de estranhamento contrastante com o modo celebrativo, plácido e aplacado como até então vinha tratando do assunto, quando se refere a Virgílio: “Mundo estranho e bizarro da quimera,/ A fantasia desvairada gera/ Um paganismo aqui./ Melhor eu compreendo então Virgílio.../ E os faunos lhe vendo a dançar no idílio/ Murmuro crente: - eu vi!”.
O enfoque temático se desloca do jogo amoroso e do condoreirismo retumbante, numa inevitável ruptura que vai incidir sobre a múltipla tematização homem-arte-natureza-divindade. Deste modo, é revelada a profissão de fé do poeta e a celebração de uma poesia localista e ao mesmo tempo cósmica, além da ocorrência de uma estética que absorve a lição de religiosidade peculiar a um dos primeiros poetas românticos brasileiros, Gonçalves de Magalhães.
Um poeta de envergadura épica e cosmopolita, considerado um caso à parte no romantismo brasileiro, pertencendo cronologicamente à terceira geração deste movimento, precedendo portanto Castro Alves de uma geração, foi o maranhense Joaquim de Sousa Andrade, o Sousândrade (1833-1902). Autor de “Guesa Errante” (1866) e “Novo Éden (1893), serviu-se de recursos estilísticos, sintáticos e formais os mais avançados, improváveis e inventivos para o tempo, haja vista as construções poéticas inusitadas, a síntese vocabular maximizada ao extremo, os jogos, experimentações e junções de palavras que são marcas inconfundíveis de sua poesia. A poesia de Sousândrade tem suas origens em fontes tão heterogêneas quanto estranhas ao mundo limitado e provinciano do país à época, contribuindo para isso a formação do poeta em países como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França e a imensa cultura adquirida em leituras de primeira mão.
Excluído por muitos anos da cena literária nacional, da historiografia literária oficial e das antologias escolares, pelos segmentos mais retrógrados de uma crítica desleal e indigente, que sumariamente o ignorava, quando não mais incompetente para avaliá-lo, foi recuperado e posto em evidência em dias recentes pelo esforço diligente de Augusto e Haroldo de Campos, tendo sido relançado em pelo menos dois livros: “Sousândrade - Poesia”, Rio de Janeiro, 1966 e “Re/Visão de Sousândrade”, São Paulo, 1964 e 1982.
Apesar do seu engajamento nas fileiras republicanas, e de escrever versos de temática escravista nas “Harpas Selvagens” (1857), não logrou tornar-se um poeta popular, em virtude da dificuldade que demonstrava, e mesmo ainda hoje demonstra, de ser lido, e neste sentido está em franca desvantagem relativamente a Castro Alves.
A relação entre estes dois poetas configura-se tumultuária e desconcertante, de vez que o único ponto de convergência entre eles reside no plano estreito da tematização do escravismo e das lutas abolicionistas, e em alguns poemas de motivação lírica amorosa. Mas, mesmo nestes pontos, está implícita uma dissonância expressiva e formal evidente - Castro Alves prefere a grandiloquência dos versos oratórios e emancipacionistas, afincados ao modelo estético da escola condoreira, enquanto que Sousândrade exerce uma supremacia inconteste na dimensão formalística, o que lhe garantiu a posição destacada, no Brasil, de antecipador do movimento gerador do modernismo de 22.
A poesia que fez de Castro Alves um poeta conhecido e admirado no país inteiro durante sua vida trágica e encurtada precocemente, era bastante rica em experiências cotidianas no trato com a luta pela liberdade e com o amor das mulheres. Esta poesia propõe soluções, aponta caminhos e não está desvestida também de possíveis defeitos e incompletudes. Apresentam-se como defeitos a proliferação e a repetição desordenadas de elementos naturais, etéreos ou terra-a-terra, mitológicos ou místicos, que se alternam com insistência e contumácia, funcionando em imagens superpostas de mares revoltos, pássaros exóticos, céus escuros e tufões irados, notadamente nos poemas escravistas.
Hoje talvez não resultasse adequada certa instrumentação poética por ele utilizada naqueles dias, diante agora de um mais fragmentário, fragilizado e pouco decantado “gosto popular”. O imaginário coletivo brasileiro não possui, desse ângulo, parâmetros de referência cultural que o identifiquem a elementos artísticos e poéticos, estranhos à realidade batida do dia-a-dia, como os elementos fundadores das mitologias grega e romana, das literaturas francesa, alemã ou inglesa.
Pode-se afirmar com certa margem de acerto que nada disso intimidou a gente dos Oitocentos, quando se pensa na força “retórica” comunicativa e convincente dos recitais do jovem e inflamado poeta. Uma força desse tipo, que se exprimia no plano da emotividade e da pregação emancipacionista, reafirmava-se constantemente em palcos e sacadas de teatros do Recife, de São Paulo ou de Salvador (lembre-se aqui as polêmicas mantidas com Tobias Barreto no Teatro Santa Isabel, no Recife – Castro Alves fazia a defesa de Eugênia Câmara, enquanto que Tobias Barreto improvisava em favor de outra atriz, Adelaide do Amaral, ambos disputando ainda a liderança da escola condoreira, situados em polos opostos que estavam quanto à equação dialética excludente revolucionarismo vs. oportunidade.), no glamour de salões burgueses, nas praças públicas e meetings, e na difusão oral generosa e desinteressada de uma vasta porção das camadas populares.
Tido o nosso poeta como o poeta mais lido e declamado no seu tempo, e mesmo em décadas posteriores, ele praticava uma poesia de versos calcados no antagonismo radical à opressão escravista – extinta em 1888, dezessete anos depois da sua morte – e no combate ao regime monárquico do Segundo Império, iniciado em 1840 com o golpe da maioridade do príncipe Pedro II e alcançando um êxito relativo de 1850 a 1860, mas logo após começando a declinar irremediavelmente. Esse regime, apesar de todas as lutas internas e externas que explodiam dentro e fora do Brasil, se estenderia até 1889, quando foi finalmente substituído pela República. Assim, Castro Alves terá um dia antecipado o seu alerta indignado ao “sátrapa arrogante” e o seu apelo patético ao “Senhor Deus dos desgraçados”. Terá circunscrito ali também a sua “mensagem libertadora” no encerramento de um ciclo histórico conturbado e complexo, prestes a arrefecer valentias, engodos e empáfias triunfalistas. E deixará demarcada ainda, num auto de fé e guerra, sem retorno ou remissão possíveis, a consumação dos últimos suspiros, ademanes e revoltas de uma época.
domingo, 7 de março de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XIV
FRIEZA E CRUELDADE DOS ASSASSINOS SÁDICOS
Um mundo subterrâneo e sombrio, esvaziado de vida sadia e extremamente violento é o dos assassinos sádicos. O acesso a um conjunto de relatos da prática nebulosa destes aficionados do crime pode ser feito através da publicação recente (2009) do livro Conduta cruel (no original, Sadistic killers), da escocesa Carol Anne Davis, pela editora Larousse, uma filial brasileira da francesa de mesmo nome. A escritora já tem uma dezena de trabalhos na área do chamado “crime realista”. É preciso que o leitor esteja disposto e preparado para enfrentar uma narrativa como esta, que quase sempre logra ultrapassar as fronteiras visíveis e familiares do cotidiano e da normalidade, ainda que caóticos, em que se transita. Nem todos terão coragem e estômago suficiente para chegar ao final, pois há situações que parecem não ter sido veiculadas por alguém tido comumente como humano.
A autora classifica os assassinos sádicos em três categorias: o sádico assassino (constitui a maioria e mata em série), o criminoso sádico (sequestra e causa dano a suas vitimas, mas geralmente não mata) e o sádico consensual (pratica modalidades de sadomasoquismo como a punição erótica consensual através de chicote e outros meios menos danosos). O levantamento de Carol Anne sobre os sádicos assassinos envolve principalmente três países, com dezenas de casos de tortura e assassinatos em série: Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Estatísticas indicam que os criminosos ostentam idade entre 20 e 30 anos e muitos fazem parte da classe trabalhadora.
Os assassinos sádicos não têm limites para a tremenda fúria que os excita sexualmente, e os seus dias são preenchidos pela obsessão da morte. As atividades diárias são exercidas normalmente – em algum momento de suas vidas trabalham, cuidam da família, transitam silenciosos e discretos, porém à espreita do momento de torturar, humilhar, esquartejar ou estrangular. O caso do sádico britânico Anthony Anderson, nascido em 1967, se diferencia por não ter motivações sexuais, e sim de vingança: aos vinte anos, em quatro dias matou dois vizinhos, além do seu avô tirânico Stasys Petrov e a mulher deste, Elsa Konrad. O avô lituano de Anthony cometeu incesto com a filha Zoe Velt, que, não por acaso, era mãe do psicopata: “Anthony Anderson amordaçou e amarrou Petrov, e o agrediu até a morte com uma marreta. E trancou a porta antes de sair. Mais tarde, contou a alguns conhecidos que o cérebro do homem fazia lembrar feijões cozidos. A quarta vítima foi a esposa de Stasys Petrov, Elsa Konrad. Ela passava roupa na cozinha quando Anderson a atacou e golpeou várias vezes com um machado. Depois, cobriu o corpo com um lençol, roubou numerosos itens da casa – incluindo uma faca retrátil – e, de maneira bizarra, deixou sua gravata no vaso sanitário”. Condenado a penas de várias prisões perpétuas pela Corte de Sheffield, vive hoje trancafiado num hospital psiquiátrico.
O norte-americano Richard Francis Cottingham, filho de um executivo e uma dona de casa, nasceu em 1946. Seu currículo criminoso inclui abusos contra várias adolescentes e cinco terríveis assassinatos. Dois deles realizados simultaneamente, na noite de 29 de novembro de 1979, num hotel de quinta categoria – o da prostituta kuwaitiana de 23 anos Deedeh Goodarzi e de uma adolescente não identificada: “Por toda aquela noite e pelos três dias que se seguiram Cottingham se dedicou a uma orgia de excessos sádicos. Queimou muitas e muitas vezes suas vítimas amarradas e amordaçadas com cigarros, açoitou-as com chicote e mordeu-as inúmeras vezes ao redor dos seios. Depois que, enfim, assassinou ambas as mulheres, Cottingham cortou-lhes as mãos e a cabeça, e as empacotou em sua bagagem. (...) Determinado a não deixar para trás nenhuma pista, Richard despejou fluido de isqueiro sobre a vagina dos dois cadáveres e ateou-lhes fogo. Então, quando as chamas saltaram do colchão e começaram a queimar o carpete, abandonou, muito tranquilo, o quarto”. Cottingham tentou o suicídio por três vezes, mas presume-se que deverá morrer na prisão.
O australiano Paul Charles Denyer tinha 21 anos quando executou, em 1993, três mulheres com requintes de violência extremada. O terceiro deles, numa pista de ciclismo, é estarrecedor: “A estudante universitária de dezessete anos Natalie Russel se dirigia a sua casa às quinze horas, quando Paul veio por trás dela e encostou-lhe a faca no pescoço. Ela se debateu até que ele ameaçou cortar-lhe a garganta. (...) Natalie se pôs a gritar e se esforçou por se erguer, mas ele forçou-a de novo para o solo e armou o laço em volta de seu pescoço. Paul a estrangulou forçando-lhe a cabeça para trás, depois fez uma pequena incisão em sua garganta e ali enfiou os dedos, agarrando suas cordas vocais e torcendo-as. Natalie começou a perder a consciência; o sádico agarrou a faca e quase a decapitou, para então assisti-la morrendo. Não contente, chutou o corpo e fez um corte profundo na face da garota morta”. Desde 1994, Paul cumpre pena modificada de prisão perpétua para trinta anos, em Victoria, podendo, ao fim desse prazo, pedir liberdade condicional.
Uma das mulheres sádicas mais cruéis foi, certamente, Awilda Lopes, cocainômana que vivia em Nova York. Torturou constantemente até assassinar a própria filha Elisa, uma garotinha nascida em 1989: “Traumatizada para além de qualquer medida, Elisa começou a perder o controle dos intestinos, e Awilda a obrigava a comer os próprios excrementos. Quando Elisa urinava nas roupas, Awilda enxugava a urina com os cabelos da garotinha. A sádica também gostava de apagar cigarros no rosto e no corpo da menina. Essas e outras torturas similares se repetiram durante um ano e meio. Alguns dos espancamentos resultaram em ossos quebrados que não receberam cuidados hospitalares, e se curaram parcialmente por si próprios. Mas em novembro de 1995, a mãe cruel foi longe demais, batendo com a cabeça da criança de seis anos contra uma parede de concreto. Elisa perdeu a consciência e permaneceu assim por mais dois dias, com fluido craniano escorrendo de nariz, boca e ouvidos. Seu tormento só terminou com a morte, e a mãe foi acusada de assassinato.” Awilda recebeu uma sentença mínima de quinze anos.
Além dos trechos citados, há numerosos outros casos no livro. Numa vertente diferenciada, aparecem os depoimentos sobre sadomasoquismo consensual, uma modalidade ainda não permitida por lei, mas que tem adeptos ilustres e criativos (o falecido compositor Percy Grainger, considerado um dos melhores pianistas do mundo; o crítico teatral Kenneth Tynan; um dos melhores poetas do pós-guerra da Grã-Bretanha, Philip Larkin e o conhecido cartunista Robert Crumb).
O fato é que, criados em lares violentos, onde há quase sempre a presença do álcool, tais transgressores sociais foram abusados e violentados pelos pais ou outros parentes, ou submetidos a uma disciplina demasiado rígida pelas mães. A vingança pelos maus tratos sofridos é a sua força-motriz para matar lentamente e exercer controle absoluto sobre suas vítimas. As presas, via de regra, se mostram bem mais frágeis que o agressor: mulheres de baixa auto-estima, crianças indefesas e homens de conduta passiva e homossexual. Esta necessidade de poder e dominação, estimulada por uma sexualidade desvirtuada, guia os seus atos abjetos, predatórios e premeditados.
UM MINICONTO DE LUIZ FERNANDO EMEDIATO
O mineiro Luiz Fernando Emediato foi um dos contistas mais atuantes da década de 1970, auge da ditadura militar. Escreveu textos configurados pela rebeldia às torturas, perseguições e assassinatos do regime excessivamente duro que assolava o Brasil, mas que estava espalhado também na América Latina, atacando as situações de frente, à maneira de um guerrilheiro da palavra.
Em 2004, organizada por Luiz Ruffato para a Geração Editorial, apareceu a coletânea de seus textos produzidos nessa época, como resultado de três livros, com o sugestivo título Trevas no paraíso: Histórias de amor e guerra nos anos de chumbo. Escolhemos um miniconto, “No circo”, que se não relata uma situação política direta ou de comportamento pequeno-burguês conservador, chama a atenção para os limites a que um homem pode chegar pela circunstância de estar com fome:
As feras te devorarão no trigésimo oitavo dia após o sinal, e embora não o queiras, caminharás em direção às mandíbulas como o cordeiro do sacrifício.
Aos sábados e domingos divertia o público introduzindo a cabeça na boca do leão. Ao final do número recebia aplausos e presenteava a fera com a necessária carícia no pescoço.
Com o tempo cansou-se da miséria. Mordia os lábios de raiva quando, ao comer no pequeno prato de farinha, via o domador passando com as postas de carne. Para vingar-se, não mais afagou o pescoço da fera. Um dia pisou-lhe com força na cauda.
Ao sábado seguinte apresentou-se no picadeiro com seu uniforme de gala. Ao entrar na jaula não se assustou com o rugido. Foi com desconsolo e resignação que enterrou a cabeça no enorme buraco escuro. Esta noite não haveria aplausos.
A obscuridade dos personagens reflete-se no obscuro do assunto escolhido: a fome feita irmã da morte. O domador que alimenta a fera não sente remorsos pela fome do seu companheiro de circo. O leão, mesmo saciado, precisa ser acariciado para não devorar aqueles que o cercam. Quando o homem pisa na cauda do bicho, assina a própria sentença de morte. O público gosta de aplaudir o homem saindo intacto da boca do leão. Quando falha, resta apenas aceitar a parceria firmada entre público e vencedor, entre o entusiasmo da plateia e a crueldade do leão. Aqueles quem forem buscar comida na jaula farta das feras, ainda mais se insatisfeitos com o pouco ou o nada que lhes cabe, serão premiados com o desaparecimento “no enorme buraco escuro”. Que espelha uma alegoria sutil para a relação dominador/dominado, opressor/oprimido, palavras-clichês largamente usadas no jargão político da época ditatorial, traduzindo circunstancialidades prioritariamente sócio-econômicas. Sem deixar de explicitar também um modo literário competente, surreal e metafórico de apresentar a situação vivida, de expressar o grotesco que pode, em muitos instantes da convivência entre os homens e animais, assumir lugares privilegiados para olhares de primeiro plano.
PARACHOQUES
O cão não esconde o rabo contente
quando fareja de longe o seu dono.
COTIDIANAS
Aspectos da militância crítica – Ao estabelecer parâmetros analíticos e critérios de valoração de obras literárias, a atividade crítica pressupõe, como consequências imediatas, a legitimação de uma obra diante do público ao qual ela é destinada, ou o seu efeito contrário, o apagamento da obra que não se sustenta por si mesma. Assim, num primeiro momento, a conivência, o elogio ou a aprovação gratuita de pares, amigos e admiradores mais próximos do crítico, são fatores de extrema importância nesta ponderação. O esforço e a coesão de grupo podem levar à formação das chamadas igrejinhas, onde só é válido literariamente o que circula e é sumamente aprovado por aquele grupo particular.
Há também o outro caso de grupos de escritores e intelectuais que, sem explicações plausíveis nem argumentos convincentes, intentam negarem-se uns aos outros, ignorando-se drástica ou solenemente, a ostentar um tipo de indiferença que se estende com freqüência às obras que porventura estejam fazendo. E essa indiferença, com seu pendor falseado e sua inclinação calculista e refratária, quando nitidamente presente nas relações interpessoais, esconde insidiosamente amesquinhados rancores, azedume e inveja.
Com uma intensidade considerável, não destituída de implicações de ordens diversas, um crítico pode vir a ser espinafrado quando suas opiniões e argumentos nem sempre coincidirem com as pretensões malfadadas daqueles autores ou pseudo-autores que deveriam ao menos estar aparelhados com o necessário senso de autocrítica para repensar os mecanismos estéticos que perfazem a qualidade e a diferenciação de um texto literário. Deste modo, apontar e condenar possíveis fragilidades de uma obra, a partir da análise objetiva e do julgamento lúcido e isento, pode transformar-se num gesto de heroísmo e num ato de coragem.
Críticas desfavoráveis, em tais circunstâncias, tendem a tomar feições judiciais, através do confronto físico ou oral, havendo casos de autores que passam mal, devendo ser socorridos rapidamente em situações de hipertensão ou insuficiência cardíaca. Há ainda os que prometem braçadas e tiros aos quatro ventos, o que revela despreparo psíquico e falta de coerência política no trato com a manifestação pública de opiniões divergentes, que devem estar desvinculadas de ataques pessoais.
RELEITURAS
Marginal Recife: coletânea poética 1 – Org. Cida pedrosa, Miró e Valmir Jordão. Os dez poetas presentes nesta microantologia lançada pela Prefeitura do Recife em 2002, refletem uma certa maneira irreverente, enviesada e a contrapelo de tratar a poesia e encarar a vida. A sua performance poética inicia-se nos anos 1980, passa pelos 90 e aporta nos nossos dias. Alguns deles tiveram vivências assemelhadas de grupo, e são exemplos disto Cida Pedrosa, Francisco Espinhara (falecido recentemente) e Jorge Lopes. No entanto, apenas de passagem e de leve a poesia de um produz na de outro interferências estéticas diretas, que levem a influências visíveis e significantes. A não ser pela recorrência de tom e de troca de experiências características do contato mais aproximado, ao tempo do movimento independente, estes poetas guardam a individualidade que lhes é devida, hoje praticamente indispensável e estigma da contemporaneidade.
No poema “A festa”, Cida Pedrosa não abre mão de uma espécie de ludismo inseparável da vida presente, arraigado ao instante que passa, mesmo quando plasmado pela oscilação de dor e alegria: “hoje é dia de festa/ mesmo que a morte ronde/ diga poemas de augusto/ e comemore a vida”. Jorge Lopes é aquele que não renega os ensinamentos que absorveu da poesia de Ferreira Gullar, como neste trecho de “Canção”: “não basta a lógica/ porque tudo muda/ a todo instante/ e o amor é uma coisa tão comum”. Dividido entre Augusto dos Anjos e Carlos Pena Filho, em “Fantoches” Francisco Espinhara compôs versos que se impõem pela virulência e radicalidade de seu lirismo pungente: “Os poetas esquecidos do beco/ Transam sangue a trago seco/ Dormem como trapos sobre o chão.// Recife, musa, maldição/ Cadela suja, traiçoeira/ Seta certeira/ Cidade encantada do cão”.
Poeta cearense radicado no Recife, Wilson Vieira exprime sua empatia pela cidade nos versos de “Loba de uma teta só” que, ao mesmo tempo em que intentam excluir o Rio e São Paulo, elegem poeticamente a “cidade cruel” a par de um desejo singelo e passadista: “São Paulo é irrelevante;/ O Rio não me excita./ É para Recife que amaria/ compor uma ode bonita”. Em outra vertente subterrânea e solitária, a poesia de Erickson Luna (já falecido) desconcerta o leitor a cada instante, tanto pelas subversões gramaticais que pratica, quanto pela estranheza de uma fala que, além de privilegiar a diferença e a aniquilação do senso comum, mistura natureza e espaço urbano, como em “Canto de amor e lama”: “Choveu/ e há lama em Santo Amaro/ nas ruas/ nas casas/ vós contornais/ eu não/ a mim a lama não suja/ em mim há lama não suja/ eu sou a lama das chuvas/ que caem em Santo Amaro// Vosso Scotch/ pode me sujar por dentro/ cachaça não/ vosso perfume/ pode me sujar por fora/ suor nunca/ porque sou suor/ a cachaça e a lama/ das chuvas que caem/ em Santo Amaro das Salinas”.
De Valmir Jordão, um poema sintonizado com a virada do século intensifica-se num humor raro e salutar. “De peixes in aquário” pode funcionar como toque astral, alerta político ou gozação descarada do outro: “Transição de Milenium,/ Onde as diferenças são/ Iguais/ E todas as distâncias/ Vizinhas./ A solução não é só líquida;/ Fique peixe,/ Que a era é de AQUÁRIO”. Também França (morto há pouco) canta o novo milênio, confirmando a violência urbana desenfreada e a configuração de um planeta parcialmente (ainda) em guerra: “Meia-noite/ Brasil do ano dois mil/ Explode em artifícios/ Camufla o novo holocausto/ Sacrifica ao deus-bezerro/ E à força das gravidades/ Muito sangue há de correr”.
Malungo, Lara e Miró, como bem observou o saudoso poeta Alberto da Cunha Melo na apresentação do livro, não se limitam aos poemas curtos. Assim, impregnado de mangue e cultura popular, Malungo logra semear uma “Obra versificada não identificada” que carrega a intencionalidade de uma iconoclastia circulantemente dispersiva e afrociberdélica: “Ao som de um hino evangélico,/ Surge um boi mameluco; boi de fita./ Um boi maluco, psicodélico; que rumina/ Saudades e defeca solidão./ Xabu nos computadores e o mofo deu nos cd’s./ Deu o zererê, cachorro em 90: bundalelê.// ... E o artista continuou discriminado e jogado a boléu”.
Um poema de Miró empresta seu título à coletânea. Nele, é descarnada a condição do poeta pobre e suburbano, espremido entre o total anonimato e a necessidade imperiosa e urgente de conseguir algo elementar como passe ou dinheiro para o ônibus de volta para casa, sem perder o bom-humor nem a capacidade de rir de si mesmo: “Recife/ Cidade das pontes/ E das fontes de miséria/ Poetas mendigando passes/ Pra voltar pra casa/ E sua poesia passando despercebida/ Aliás,/ Nem passa”.
A pobreza tem sido uma constante na maioria dos poetas de todos os tempos e lugares, assim como sua conhecida aversão ao dinheiro. Na década de 1970, o poeta carioca Chacal tematizou essa pindaíba num livreto mimeografado intitulado Preço da passagem. De lá para cá, a situação não parece ter mudado muito para os poetas que se recusaram ou se recusam, libertária e saudavelmente, a enquadrar-se no mundo banalizado, repetitivo e massacrante da produção e do trabalho. Numa palavra, o preço que pode vir a tornar-se insistentemente ausente e suprimido do bolso do poeta, ao invés de pago sem favores nem constrangimentos, enseja-se, obviamente, como o preço da passagem.
(In: Suplemento Cultural (CEPE), ano XVIII, set. 2003, p. 12. Publicado sob o título “Poesia marginal do Recife”; aqui, com pequenas alterações.)
LIÇÕES TRIBAIS
Nem sempre se deve
ao pé da letra seguir
os ensinamentos da tribo
pois a ordem das coisas
à aparência imutáveis
pode mudar repentina
e o que era anverso
passar a ser verso
ou reverso
e vice-versa
chegar ao inverso
o que assim controverso –
o desconcerto do mundo
com seus dúbios reflexos
poder dar dimensão
inesperada ao verso.
Um mundo subterrâneo e sombrio, esvaziado de vida sadia e extremamente violento é o dos assassinos sádicos. O acesso a um conjunto de relatos da prática nebulosa destes aficionados do crime pode ser feito através da publicação recente (2009) do livro Conduta cruel (no original, Sadistic killers), da escocesa Carol Anne Davis, pela editora Larousse, uma filial brasileira da francesa de mesmo nome. A escritora já tem uma dezena de trabalhos na área do chamado “crime realista”. É preciso que o leitor esteja disposto e preparado para enfrentar uma narrativa como esta, que quase sempre logra ultrapassar as fronteiras visíveis e familiares do cotidiano e da normalidade, ainda que caóticos, em que se transita. Nem todos terão coragem e estômago suficiente para chegar ao final, pois há situações que parecem não ter sido veiculadas por alguém tido comumente como humano.
A autora classifica os assassinos sádicos em três categorias: o sádico assassino (constitui a maioria e mata em série), o criminoso sádico (sequestra e causa dano a suas vitimas, mas geralmente não mata) e o sádico consensual (pratica modalidades de sadomasoquismo como a punição erótica consensual através de chicote e outros meios menos danosos). O levantamento de Carol Anne sobre os sádicos assassinos envolve principalmente três países, com dezenas de casos de tortura e assassinatos em série: Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Estatísticas indicam que os criminosos ostentam idade entre 20 e 30 anos e muitos fazem parte da classe trabalhadora.
Os assassinos sádicos não têm limites para a tremenda fúria que os excita sexualmente, e os seus dias são preenchidos pela obsessão da morte. As atividades diárias são exercidas normalmente – em algum momento de suas vidas trabalham, cuidam da família, transitam silenciosos e discretos, porém à espreita do momento de torturar, humilhar, esquartejar ou estrangular. O caso do sádico britânico Anthony Anderson, nascido em 1967, se diferencia por não ter motivações sexuais, e sim de vingança: aos vinte anos, em quatro dias matou dois vizinhos, além do seu avô tirânico Stasys Petrov e a mulher deste, Elsa Konrad. O avô lituano de Anthony cometeu incesto com a filha Zoe Velt, que, não por acaso, era mãe do psicopata: “Anthony Anderson amordaçou e amarrou Petrov, e o agrediu até a morte com uma marreta. E trancou a porta antes de sair. Mais tarde, contou a alguns conhecidos que o cérebro do homem fazia lembrar feijões cozidos. A quarta vítima foi a esposa de Stasys Petrov, Elsa Konrad. Ela passava roupa na cozinha quando Anderson a atacou e golpeou várias vezes com um machado. Depois, cobriu o corpo com um lençol, roubou numerosos itens da casa – incluindo uma faca retrátil – e, de maneira bizarra, deixou sua gravata no vaso sanitário”. Condenado a penas de várias prisões perpétuas pela Corte de Sheffield, vive hoje trancafiado num hospital psiquiátrico.
O norte-americano Richard Francis Cottingham, filho de um executivo e uma dona de casa, nasceu em 1946. Seu currículo criminoso inclui abusos contra várias adolescentes e cinco terríveis assassinatos. Dois deles realizados simultaneamente, na noite de 29 de novembro de 1979, num hotel de quinta categoria – o da prostituta kuwaitiana de 23 anos Deedeh Goodarzi e de uma adolescente não identificada: “Por toda aquela noite e pelos três dias que se seguiram Cottingham se dedicou a uma orgia de excessos sádicos. Queimou muitas e muitas vezes suas vítimas amarradas e amordaçadas com cigarros, açoitou-as com chicote e mordeu-as inúmeras vezes ao redor dos seios. Depois que, enfim, assassinou ambas as mulheres, Cottingham cortou-lhes as mãos e a cabeça, e as empacotou em sua bagagem. (...) Determinado a não deixar para trás nenhuma pista, Richard despejou fluido de isqueiro sobre a vagina dos dois cadáveres e ateou-lhes fogo. Então, quando as chamas saltaram do colchão e começaram a queimar o carpete, abandonou, muito tranquilo, o quarto”. Cottingham tentou o suicídio por três vezes, mas presume-se que deverá morrer na prisão.
O australiano Paul Charles Denyer tinha 21 anos quando executou, em 1993, três mulheres com requintes de violência extremada. O terceiro deles, numa pista de ciclismo, é estarrecedor: “A estudante universitária de dezessete anos Natalie Russel se dirigia a sua casa às quinze horas, quando Paul veio por trás dela e encostou-lhe a faca no pescoço. Ela se debateu até que ele ameaçou cortar-lhe a garganta. (...) Natalie se pôs a gritar e se esforçou por se erguer, mas ele forçou-a de novo para o solo e armou o laço em volta de seu pescoço. Paul a estrangulou forçando-lhe a cabeça para trás, depois fez uma pequena incisão em sua garganta e ali enfiou os dedos, agarrando suas cordas vocais e torcendo-as. Natalie começou a perder a consciência; o sádico agarrou a faca e quase a decapitou, para então assisti-la morrendo. Não contente, chutou o corpo e fez um corte profundo na face da garota morta”. Desde 1994, Paul cumpre pena modificada de prisão perpétua para trinta anos, em Victoria, podendo, ao fim desse prazo, pedir liberdade condicional.
Uma das mulheres sádicas mais cruéis foi, certamente, Awilda Lopes, cocainômana que vivia em Nova York. Torturou constantemente até assassinar a própria filha Elisa, uma garotinha nascida em 1989: “Traumatizada para além de qualquer medida, Elisa começou a perder o controle dos intestinos, e Awilda a obrigava a comer os próprios excrementos. Quando Elisa urinava nas roupas, Awilda enxugava a urina com os cabelos da garotinha. A sádica também gostava de apagar cigarros no rosto e no corpo da menina. Essas e outras torturas similares se repetiram durante um ano e meio. Alguns dos espancamentos resultaram em ossos quebrados que não receberam cuidados hospitalares, e se curaram parcialmente por si próprios. Mas em novembro de 1995, a mãe cruel foi longe demais, batendo com a cabeça da criança de seis anos contra uma parede de concreto. Elisa perdeu a consciência e permaneceu assim por mais dois dias, com fluido craniano escorrendo de nariz, boca e ouvidos. Seu tormento só terminou com a morte, e a mãe foi acusada de assassinato.” Awilda recebeu uma sentença mínima de quinze anos.
Além dos trechos citados, há numerosos outros casos no livro. Numa vertente diferenciada, aparecem os depoimentos sobre sadomasoquismo consensual, uma modalidade ainda não permitida por lei, mas que tem adeptos ilustres e criativos (o falecido compositor Percy Grainger, considerado um dos melhores pianistas do mundo; o crítico teatral Kenneth Tynan; um dos melhores poetas do pós-guerra da Grã-Bretanha, Philip Larkin e o conhecido cartunista Robert Crumb).
O fato é que, criados em lares violentos, onde há quase sempre a presença do álcool, tais transgressores sociais foram abusados e violentados pelos pais ou outros parentes, ou submetidos a uma disciplina demasiado rígida pelas mães. A vingança pelos maus tratos sofridos é a sua força-motriz para matar lentamente e exercer controle absoluto sobre suas vítimas. As presas, via de regra, se mostram bem mais frágeis que o agressor: mulheres de baixa auto-estima, crianças indefesas e homens de conduta passiva e homossexual. Esta necessidade de poder e dominação, estimulada por uma sexualidade desvirtuada, guia os seus atos abjetos, predatórios e premeditados.
UM MINICONTO DE LUIZ FERNANDO EMEDIATO
O mineiro Luiz Fernando Emediato foi um dos contistas mais atuantes da década de 1970, auge da ditadura militar. Escreveu textos configurados pela rebeldia às torturas, perseguições e assassinatos do regime excessivamente duro que assolava o Brasil, mas que estava espalhado também na América Latina, atacando as situações de frente, à maneira de um guerrilheiro da palavra.
Em 2004, organizada por Luiz Ruffato para a Geração Editorial, apareceu a coletânea de seus textos produzidos nessa época, como resultado de três livros, com o sugestivo título Trevas no paraíso: Histórias de amor e guerra nos anos de chumbo. Escolhemos um miniconto, “No circo”, que se não relata uma situação política direta ou de comportamento pequeno-burguês conservador, chama a atenção para os limites a que um homem pode chegar pela circunstância de estar com fome:
As feras te devorarão no trigésimo oitavo dia após o sinal, e embora não o queiras, caminharás em direção às mandíbulas como o cordeiro do sacrifício.
Aos sábados e domingos divertia o público introduzindo a cabeça na boca do leão. Ao final do número recebia aplausos e presenteava a fera com a necessária carícia no pescoço.
Com o tempo cansou-se da miséria. Mordia os lábios de raiva quando, ao comer no pequeno prato de farinha, via o domador passando com as postas de carne. Para vingar-se, não mais afagou o pescoço da fera. Um dia pisou-lhe com força na cauda.
Ao sábado seguinte apresentou-se no picadeiro com seu uniforme de gala. Ao entrar na jaula não se assustou com o rugido. Foi com desconsolo e resignação que enterrou a cabeça no enorme buraco escuro. Esta noite não haveria aplausos.
A obscuridade dos personagens reflete-se no obscuro do assunto escolhido: a fome feita irmã da morte. O domador que alimenta a fera não sente remorsos pela fome do seu companheiro de circo. O leão, mesmo saciado, precisa ser acariciado para não devorar aqueles que o cercam. Quando o homem pisa na cauda do bicho, assina a própria sentença de morte. O público gosta de aplaudir o homem saindo intacto da boca do leão. Quando falha, resta apenas aceitar a parceria firmada entre público e vencedor, entre o entusiasmo da plateia e a crueldade do leão. Aqueles quem forem buscar comida na jaula farta das feras, ainda mais se insatisfeitos com o pouco ou o nada que lhes cabe, serão premiados com o desaparecimento “no enorme buraco escuro”. Que espelha uma alegoria sutil para a relação dominador/dominado, opressor/oprimido, palavras-clichês largamente usadas no jargão político da época ditatorial, traduzindo circunstancialidades prioritariamente sócio-econômicas. Sem deixar de explicitar também um modo literário competente, surreal e metafórico de apresentar a situação vivida, de expressar o grotesco que pode, em muitos instantes da convivência entre os homens e animais, assumir lugares privilegiados para olhares de primeiro plano.
PARACHOQUES
O cão não esconde o rabo contente
quando fareja de longe o seu dono.
COTIDIANAS
Aspectos da militância crítica – Ao estabelecer parâmetros analíticos e critérios de valoração de obras literárias, a atividade crítica pressupõe, como consequências imediatas, a legitimação de uma obra diante do público ao qual ela é destinada, ou o seu efeito contrário, o apagamento da obra que não se sustenta por si mesma. Assim, num primeiro momento, a conivência, o elogio ou a aprovação gratuita de pares, amigos e admiradores mais próximos do crítico, são fatores de extrema importância nesta ponderação. O esforço e a coesão de grupo podem levar à formação das chamadas igrejinhas, onde só é válido literariamente o que circula e é sumamente aprovado por aquele grupo particular.
Há também o outro caso de grupos de escritores e intelectuais que, sem explicações plausíveis nem argumentos convincentes, intentam negarem-se uns aos outros, ignorando-se drástica ou solenemente, a ostentar um tipo de indiferença que se estende com freqüência às obras que porventura estejam fazendo. E essa indiferença, com seu pendor falseado e sua inclinação calculista e refratária, quando nitidamente presente nas relações interpessoais, esconde insidiosamente amesquinhados rancores, azedume e inveja.
Com uma intensidade considerável, não destituída de implicações de ordens diversas, um crítico pode vir a ser espinafrado quando suas opiniões e argumentos nem sempre coincidirem com as pretensões malfadadas daqueles autores ou pseudo-autores que deveriam ao menos estar aparelhados com o necessário senso de autocrítica para repensar os mecanismos estéticos que perfazem a qualidade e a diferenciação de um texto literário. Deste modo, apontar e condenar possíveis fragilidades de uma obra, a partir da análise objetiva e do julgamento lúcido e isento, pode transformar-se num gesto de heroísmo e num ato de coragem.
Críticas desfavoráveis, em tais circunstâncias, tendem a tomar feições judiciais, através do confronto físico ou oral, havendo casos de autores que passam mal, devendo ser socorridos rapidamente em situações de hipertensão ou insuficiência cardíaca. Há ainda os que prometem braçadas e tiros aos quatro ventos, o que revela despreparo psíquico e falta de coerência política no trato com a manifestação pública de opiniões divergentes, que devem estar desvinculadas de ataques pessoais.
RELEITURAS
Marginal Recife: coletânea poética 1 – Org. Cida pedrosa, Miró e Valmir Jordão. Os dez poetas presentes nesta microantologia lançada pela Prefeitura do Recife em 2002, refletem uma certa maneira irreverente, enviesada e a contrapelo de tratar a poesia e encarar a vida. A sua performance poética inicia-se nos anos 1980, passa pelos 90 e aporta nos nossos dias. Alguns deles tiveram vivências assemelhadas de grupo, e são exemplos disto Cida Pedrosa, Francisco Espinhara (falecido recentemente) e Jorge Lopes. No entanto, apenas de passagem e de leve a poesia de um produz na de outro interferências estéticas diretas, que levem a influências visíveis e significantes. A não ser pela recorrência de tom e de troca de experiências características do contato mais aproximado, ao tempo do movimento independente, estes poetas guardam a individualidade que lhes é devida, hoje praticamente indispensável e estigma da contemporaneidade.
No poema “A festa”, Cida Pedrosa não abre mão de uma espécie de ludismo inseparável da vida presente, arraigado ao instante que passa, mesmo quando plasmado pela oscilação de dor e alegria: “hoje é dia de festa/ mesmo que a morte ronde/ diga poemas de augusto/ e comemore a vida”. Jorge Lopes é aquele que não renega os ensinamentos que absorveu da poesia de Ferreira Gullar, como neste trecho de “Canção”: “não basta a lógica/ porque tudo muda/ a todo instante/ e o amor é uma coisa tão comum”. Dividido entre Augusto dos Anjos e Carlos Pena Filho, em “Fantoches” Francisco Espinhara compôs versos que se impõem pela virulência e radicalidade de seu lirismo pungente: “Os poetas esquecidos do beco/ Transam sangue a trago seco/ Dormem como trapos sobre o chão.// Recife, musa, maldição/ Cadela suja, traiçoeira/ Seta certeira/ Cidade encantada do cão”.
Poeta cearense radicado no Recife, Wilson Vieira exprime sua empatia pela cidade nos versos de “Loba de uma teta só” que, ao mesmo tempo em que intentam excluir o Rio e São Paulo, elegem poeticamente a “cidade cruel” a par de um desejo singelo e passadista: “São Paulo é irrelevante;/ O Rio não me excita./ É para Recife que amaria/ compor uma ode bonita”. Em outra vertente subterrânea e solitária, a poesia de Erickson Luna (já falecido) desconcerta o leitor a cada instante, tanto pelas subversões gramaticais que pratica, quanto pela estranheza de uma fala que, além de privilegiar a diferença e a aniquilação do senso comum, mistura natureza e espaço urbano, como em “Canto de amor e lama”: “Choveu/ e há lama em Santo Amaro/ nas ruas/ nas casas/ vós contornais/ eu não/ a mim a lama não suja/ em mim há lama não suja/ eu sou a lama das chuvas/ que caem em Santo Amaro// Vosso Scotch/ pode me sujar por dentro/ cachaça não/ vosso perfume/ pode me sujar por fora/ suor nunca/ porque sou suor/ a cachaça e a lama/ das chuvas que caem/ em Santo Amaro das Salinas”.
De Valmir Jordão, um poema sintonizado com a virada do século intensifica-se num humor raro e salutar. “De peixes in aquário” pode funcionar como toque astral, alerta político ou gozação descarada do outro: “Transição de Milenium,/ Onde as diferenças são/ Iguais/ E todas as distâncias/ Vizinhas./ A solução não é só líquida;/ Fique peixe,/ Que a era é de AQUÁRIO”. Também França (morto há pouco) canta o novo milênio, confirmando a violência urbana desenfreada e a configuração de um planeta parcialmente (ainda) em guerra: “Meia-noite/ Brasil do ano dois mil/ Explode em artifícios/ Camufla o novo holocausto/ Sacrifica ao deus-bezerro/ E à força das gravidades/ Muito sangue há de correr”.
Malungo, Lara e Miró, como bem observou o saudoso poeta Alberto da Cunha Melo na apresentação do livro, não se limitam aos poemas curtos. Assim, impregnado de mangue e cultura popular, Malungo logra semear uma “Obra versificada não identificada” que carrega a intencionalidade de uma iconoclastia circulantemente dispersiva e afrociberdélica: “Ao som de um hino evangélico,/ Surge um boi mameluco; boi de fita./ Um boi maluco, psicodélico; que rumina/ Saudades e defeca solidão./ Xabu nos computadores e o mofo deu nos cd’s./ Deu o zererê, cachorro em 90: bundalelê.// ... E o artista continuou discriminado e jogado a boléu”.
Um poema de Miró empresta seu título à coletânea. Nele, é descarnada a condição do poeta pobre e suburbano, espremido entre o total anonimato e a necessidade imperiosa e urgente de conseguir algo elementar como passe ou dinheiro para o ônibus de volta para casa, sem perder o bom-humor nem a capacidade de rir de si mesmo: “Recife/ Cidade das pontes/ E das fontes de miséria/ Poetas mendigando passes/ Pra voltar pra casa/ E sua poesia passando despercebida/ Aliás,/ Nem passa”.
A pobreza tem sido uma constante na maioria dos poetas de todos os tempos e lugares, assim como sua conhecida aversão ao dinheiro. Na década de 1970, o poeta carioca Chacal tematizou essa pindaíba num livreto mimeografado intitulado Preço da passagem. De lá para cá, a situação não parece ter mudado muito para os poetas que se recusaram ou se recusam, libertária e saudavelmente, a enquadrar-se no mundo banalizado, repetitivo e massacrante da produção e do trabalho. Numa palavra, o preço que pode vir a tornar-se insistentemente ausente e suprimido do bolso do poeta, ao invés de pago sem favores nem constrangimentos, enseja-se, obviamente, como o preço da passagem.
(In: Suplemento Cultural (CEPE), ano XVIII, set. 2003, p. 12. Publicado sob o título “Poesia marginal do Recife”; aqui, com pequenas alterações.)
LIÇÕES TRIBAIS
Nem sempre se deve
ao pé da letra seguir
os ensinamentos da tribo
pois a ordem das coisas
à aparência imutáveis
pode mudar repentina
e o que era anverso
passar a ser verso
ou reverso
e vice-versa
chegar ao inverso
o que assim controverso –
o desconcerto do mundo
com seus dúbios reflexos
poder dar dimensão
inesperada ao verso.
Assinar:
Postagens (Atom)