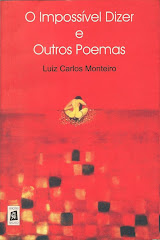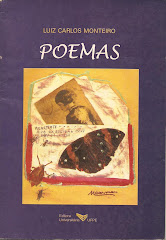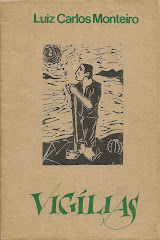UM POEMA RECENTE DE FERNANDO MONTEIRO
“E para que ser poeta
em tempos de
penúria?”
Insepulta jaz a pergunta acima
e bem acima do motivo
supostamente íntimo
visto no verso de um dos últimos poemas de Roberto Piva.
A inquirição, franca, fende a fina porcelana de cera dos ouvidos.
Sabemos da penúria,
porém não queremos saber dela.
Plantamos a flor carnívora,
mas desviamos a vista
quando o jardim do pecado
castiga com isso:
indiferença, acídia, tédio mortal
no peito de avestruzes
(os do estômago forte
para literatura feita
com lixo).
Lixo, lixo, lixo:
afirmou três vezes, o Roberto
Pedro da não-negação pívia,
no vôo de Gavião livre
acima da poesia brasileira
do avestruzismo afundando
no tapete vermelho
dos prêmios paulistas
que nunca foram para as mãos
paulistanas desse ímpio gentil,
suave no convívio
porém feroz na recusa
de comércio literário
& negócios do
filth.
Tardia lição de um pária,
a pergunta posta no lixo
basta como indagação direta,
resta como interrogação pura
de dentro para fora da sua vida:
para que ser poeta em época
de bosta blindando tímpanos?
Ainda incomoda muita
gente,
porque
perguntar é claro que
ofende
(e elefantes chateiam muito menos,
naquele refrão de cantilena),
a penúria a pesar mais, muito mais, do que setenta e dois mil paquidermes do circo embutido no círculo de dúvidas levantadas pela palavra indicando (múltipla escolha, agora):
A) “Um idoso precisando de grana,
com choro e sem vê-la?”
B) “O solitário sem recursos,
num prédio degradado da Sampa
que faz a delícia dos cineastas
de olho de vidro?”
C) “Aluguéis em atraso, dívidas,
a necessidade de tratar os dentes
de ilustre entre os inadimplentes?”...
D) “Etc etc.”
[OBSERVAÇÃO: Dessa forma, é doce morrer no mar
da pergunta debitada ao desalento, remetida ao gosto pelo autoflagelo,
o fingidor a fingir que a penúria seria só a do poeta,
o mais marginal dentre os vates menos ilustres da nossa lira,
pois Piva não teve sorte na vida, nenhum amigo na
Folha
e foi curto minuto no noticiário noturno apenas quando morreu
en passant para a TV voltada para a montanha do Lixo.]
“E para que ser poeta em tempos de penúria?”
é um dedo que nos acusa, trêmulo,
e não devido ao Parkinson do poeta.
O fato é que ultrapassa do tecido biográfico,
dos dados de cartório, geografia e outros
[PIVA, ROBERTO – São Paulo, 1937/2010]
e progride em acusação, do patamar da pobreza
para um geral “mal estar na cultura”,
uma doença suspensa sobre as cabeças
acima das quais paira a cinza
da pergunta do bardo por anos e anos
tentando, na ignorância da penúria,
“ressuscitar a arte morta da poesia;
errado desde o início,
não rigorosamente,
mas vendo que havia nascido
num país meio selvagem,
fora de época”.
Isso é fragmento de Pound,
ou um centavo da sua franqueza
dedicada ao mesmo objeto
do falso desdém
de Marianne Moore:
Eu, também, não gosto dela.
Lendo-a, no entanto, com um
perfeito desdém por ela,
descobre-se na poesia
um lugar, afinal, para as coisas
autênticas.
“Delicada situação
financeira” etc.,
referiram alguns necrológios em lamento
impresso de delicadeza uníssona,
eu reconheço, para com a memória de Piva.
Com certeza, delicada era a espessura
de nuvem
do seu sistema (?) de vida
refletida no espelho d’água
de uma foto fazendo tremer,
na imagem do poeta sessentão,
a marca dos anos finais
de sol negro no seu endereço
de solidão no centro populoso
da maior cidade da América Latina:
Aqui morou um menino de fazenda
transformado em poeta urbano
de capa do terceiro caderno
que o mendigo depois usa
com finalidades higiênicas.
Nas páginas de jornais,
quando acontecia de se lembrarem dele,
Roberto sabia encenar para a estagiária
enviada da redação (a propósito de qualquer besteira),
o lirismo transverso de uma espécie de anjo
decadente a fazer aquelas perguntas tortas
pelo mau uso do cachimbo fora das bocas
da moda em Liberdade, Vila Olímpia
e Moema.
Não era, entretanto, um amador em espetáculo
performático (y otras frescuras),
e o caso da pergunta que ele deixou perfilada
num verso até simples,
adverte o tempo de aposentar poetas,
abre o verbo,
diz claramente:
em épocas de penúria deprimindo o espírito,
a poesia se torna absurda,
sem sentido, dispensável, inútil,
deslocada e carente de público
inclusive para ouvir o tilintar
do dinheiro, realmente,
num poema de Ritsos:
Tarde sombria como um bolso vazio.
No fundo do bolso um buraco doce, penugento.
Por lá passas um dedo em segredo,
tocas a própria coxa como se tocasses
outro corpo, maior, estranho, profundo
– o corpo da noite ou da tua morte.
Por esse buraco caem as moedas todas,
mesmo as de ouro, cunhadas com a efígie
esplêndida e jovem do Príncipe dos Lírios.
A pergunta de Piva – essa fissura –
revela meramente o que ela revela,
pois o cão do derradeiro livro
não produziria um ganido,
ao latir para tímpanos blindados
pela incultura.
É claro que faltavam conforto, vinhos
e rosas,
sendo parcas as rendas do herdeiro
de antigas terras sumidas
com roseirais na bruma.
E poucos os meios (mais do que os fins)
para os longos fins de semana,
o garoto da banca de revistas,
a importada edição dos inéditos
de Pier Paolo Pasolini.
Tudo tão verdadeiro quanto distante
da essência de outras penúrias
entre esquinas de garoas
e galerias de arte em
vernissages
cujo rumor de cálices noturnos
chega aos guardadores de carros
como a música do paraíso
de inalcançáveis perdizes.
Para que ser poeta em tempos assim?
Quando Piva faleceu (e faz pouco tempo),
todos evitaram cuidadosamente
a simplicidade desconcertante
da interrogação relativa
aos Tempos de Penúria
Intelectual,
Moral,
Social,
Sexual,
Musical,
Teatral,
Poetal,
Caricatural...
virando uma exposição no MASP,
um patrocínio da Lei Rouanet,
uma loucura domesticada,
uma homenagem ao terraço Itália,
uma retrospectiva de metrô dedicada ao Bardi
e esquecida dos Flávios da família patrícia
da Casa do Caralho pichado
no monumento àquela revolução
Constitucionalista (com “C” grande)
que é um caso de São Paulo,
como Jânio Quadros,
os Mutantes,
os irmãos Campos
e Hebe Camargo.
Tudo isso está saindo assim
para dizer que Piva começou
quando das edições de Massao
(por favor, não deixem morrer o Editor, sem que ele ouça o “Ohno!” sendo chamado entre os nomes fundamentais da fé clara na poesia, numa época de treva),
os livros despontando da Oscar Freire
entre aguardente e rara consolação
de um Piva no meio dos pífios
entre poetas lançados assim mesmo
(o samurai não usava a katana,
mas longos cabelos de Mifune
e o olho de receber uma Hilda Hilst
com todas as honras).
Hilda! Era instigante encontrar pessoas estranhas
nos bares, moças de botinas, atores que não dormiam,
atrizes que fumavam demais,
gente saudável do modo mais incorretamente político
possível entre invernos e repressões,
notícias vagas de espiões
e manifestos da classe unida
para terminar em separação,
“Diretas Já!”
e outros gritos que vulgarizam poemas
ditos longos (e pré-ditos), elegantes,
essas porras de novo,
e Piva e a prova de que nada muda
– quando no fundo se deseja
a mudança de Lampedusa,
de Salina para Salina.
Fui mal, nessa tentativa de síntese.
Sou ruim, quando se trata de ver de longe
e de perto ao mesmo tempo.
Finjam que não leram,
e recomecemos dos escândalos paulistanos
que sempre terminam bem absorvidos
pela capital grande demais para se assustar
com uma arenga de artista.
Roberto Piva, apesar disso,
bem que tentou,
enquanto seus amigos agora respiram,
afinal saudosos, aliviadamente,
na neblina.
Ele aceitou pisar ao
contrário
na sarjeta cuspida pelos mendigos,
entre seringas e camisinhas usadas
por trás de fumaças das pamonhas
cozidas para os nordestinos
da São João dos antigos cinemas
pornôs reforçados por sexo ao vivo.
Era o puro desespero que Piva via
no palco e na platéia de mãos sujas
de esperma e gosmenta casca de milho
no chão das salas vinte e quatro horas
sem limpeza,
até vir uma mulher com o uniforme de serviço
a fim de suportar a imundície removida com pá,
porém sem a luva de uso “uma por vez”
de recomendação da Saúde Púbica.
Roberto Piva estava pobre e triste,
porém a pergunta que ele deixou
feita para a Indiferença,
dirigida ao Tédio,
destinada à Morte (e fim),
não dizia respeito somente à conta bancária
de movimento certamente ridículo
para o critério dos cheques especiais regulados
pela central de algum banco centralíssimo
na Paulista ou no antigo Viaduto do Chá
sem meias xícaras de medidas
contra o comércio de artigos de plástico
dos miseráveis que comoviam o poeta,
uma vez que as lágrimas de Roberto
raramente eram para si mesmo,
a cara amassada no espelho
implacável da queda dos cabelos
também nos travesseiros
ligeiramente azedos
da longa noite sozinho,
sem beleza.
Tenho uma história para contar, ainda.
De certo modo, é uma história sobre Piva e eu,
que nunca nos conhecemos em São Paulo
ou no Recife ou em outro lugar qualquer
deste país de bienais e flips, flops e flups.
Acontece que alguém de um “Círculo de Leitores OF”
(assim mesmo) resolveu me convidar para ler
fragmentos de
Vi uma foto de Anna Akhmátova
e eu perguntei se pagavam,
e a moça do outro lado da linha
[
num mau poema, isso quer dizer telefone]
respondeu que “ofereciam passagem e hospedagem”,
mas cachê não.
Pagamentos eram para a sala,
para “o rapaz do som”, “a companhia de eletricidade”,
a “gráfica dos cartazes” e tudo o mais,
menos para o poeta convidado para recitar poemas
ou que raio fosse (digo eu).
Irritado, eu emendei: “
Dizer poesia”.
Ela disse: “Pois é. Não há dinheiro para isso.”
Eu disse: “Eu já entendi. Mas você devia ter dito DIZER POESIA,
em vez de
recitar poemas.”
Ela disse: “Hein?”
Eu desisti.
Mas voltei a perguntar: “E o que é OF? É inglês?”
Ela disse: “Não! É Orides Fontela. Circulo de Leituras Orides Fontela”...
Então, eu aceitei ir “recitar poemas”,
isto é, aceitei viajar sem ganhar um centavo,
com um propósito “nobre”, “cultural” (essas merdas)
embora a própria Orides houvesse escrito belamente:
Viajar
mas não
para
viajar
mas sem
onde
sem rota sem ciclo sem círculo
sem finalidade possível.
Como eu poderia cobrar alguns trocados
de um Círculo de Leitores tocando
a memória tristíssima da poeta mais pobre do mundo?
Orides Fontela foi despejada,
ficou sem lugar para morar
e teve que se alojar de qualquer jeito
na Casa do Estudante,
na mesma Avenida São João que você conhecia tão bem,
meu poeta (alguma vez chegou a ver Orides
recolhendo algum bichano transido de frio
entre uma
delicatessen e um hotel para lúmpens?)...
Esse convite foi na semana em que você morreu, Piva,
eu estava comovido e a lembrança da pobre Orides
veio destroçar ainda mais a minha resolução de cobrar
pra viajar com rota e para um Círculo liso,
com a finalidade de ler partes do
Anna Akhmátova
ou qualquer outra excrescência de tempos de penúria
(para que ler poesia?), de maneira que eu propus:
“Eu aceito, mas vou para falar sobre o Roberto Piva”.
Ela: “Quem?”
Eu: “Piva, o poeta que acaba de morrer.”
Ela: “Era seu amigo?”
Eu: “Não”.
Ela: “E por que o senhor quer falar sobre ele?”
Eu: “Porque um dos seus últimos versos não me sai da cabeça”.
Ela: “É tão bonito assim?”
Eu: “Versos não precisam ser bonitos. Versos precisam ser verdadeiros.”
Ela: “Diga ele”.
Eu: “Diga-o”.
Ela: “Eu não sei qual verso é esse que não sai da cabeça do senhor.”
Eu: “Eu sei.”
Ela: “Então, diga”.
Eu:
“E para que ser poeta em tempos de penúria?”
É claro que eu terminei indo lá,
no Centro de Leituras Orides Fontela,
e falei sobre Orides e sobre Roberto,
ambos pobres e doentes e grandes poetas
que São Paulo ignorou de diferentes maneiras,
autorizando o Brasil a ignorá-los também.
Porque, realmente, não há nenhuma razão
para se ser poeta em tempos de penúria
feita da não-percepção do muito que depende
de um “carrinho de bebê vermelho ao sol”
ou qualquer outra banalidade aparente
voltando num sonho leve como avencas
na sombra do perdido paraíso da infância
de vagalumes presos.
Eles estavam já apagados, Piva,
na palma envelhecida de Parkinson e saliva,
cansaço e mais “os anos sem emoção” (...)
São Paulo desaparecera por detrás da juventude
da geração de Robertos confiados
(de modos diversos) na aventura da vida
a trair pelo menos os Pivas (e as Orides).
Não há mais poemas nos muros de eleições sem inspiração.
Não há mais inspiração para seja o que for que ainda não tenha sido traído
ao menos por distração (concedido seja o beneplácito da dúvida sobre a determinação de algumas traições).
“E para que ser poeta
em tempos de
penúria?”
Você perguntou tão francamente
que ninguém poderia prestar muita atenção,
meu poeta pronto para morrer desse lamento,
além da doença e da orfandade de si,
Orfeu perguntando “para quê”?...
E todos fazendo como se a pergunta
não fosse com ninguém,
além do próprio poeta Piva.
[NOTA: O poema já estava terminado – exatamente no dia 3 de agosto, um mês após a morte de Roberto Piva -- quando me deparei com a seguinte notícia, conservada na internet: 13 de junho de 2010... O editor Massao Ohno, de 74 anos, morreu anteontem à noite na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, onde estava internado havia uma semana etc. Apesar disso, decidi manter o verso referente ao Massao – verso que ainda o toma por vivo – íntegro no seu engano, uma vez que a notícia sobre a morte do Editor, despercebida, é mais um exemplo dos “tempos de penúria” de que fala o verso do Piva. FERNANDO MONTEIRO]