O “GAUCHE” DAS MUITAS FACES
Em 1930, quando vivia ainda em Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade lançou o seu livro de estreia, Alguma poesia, publicado às próprias expensas. O aparecimento deste primeiro trabalho do poeta de vinte e oito anos representou algo de grandioso, definidor e definitivo para a poesia brasileira, vindo juntar-se ao que já existia de exponencial na poesia de Manuel Bandeira e na lírica de Mário de Andrade. Além disso, a poética drummondiana passará a exercer, pelos próximos anos e mesmo nos nossos dias, uma notável e marcante influência sobre numerosos poetas, sem distinção excludente entre iniciantes ou experimentados.
Certas ressalvas foram feitas pela crítica da época, notadamente à vertente “piadística” constante no livro, derivada de um modernismo recente mas sem dúvida atuante, explicitada no curtíssimo e já bastante citado “Cota zero”: “Stop./ A vida parou/ ou foi o automóvel?”. Ou ainda, em um poema como “Caeté”, terceiro da série “Lanterna mágica”, caracterizado por uma dicção oswaldiana inconfundível, embora a estrutura formal o negue, pela aplicação de pontos e reticências infrequentes num Oswald de Andrade iconoclasta, inquieto e radical, inovador de formas e destruidor de mitos. Encontra-se presente também uma confluência sintática e diccional que lembra bandeira, como na ressonância da voz longínqua e distanciada “que sobe do morro”, no entanto demasiadamente humana e composta da mesma carne e estatura comum: “A igreja de costas para o trem./ Nuvens que são cabeças de santo./ Casas torcidas/ E a longa voz que sobe/ que sobe do morro/ que sobe...”.
Em “Outubro 1930”, subdividido alternadamente em poesia e prosa, esboça-se a sua visão problematizadora e “participante” dos acontecimentos nos anos intermediários às duas grandes guerras e nos dias históricos e expectantes de um levante tenentista sempre iminente e anunciado desde a segunda metade do século 19 e intensificado com a proclamação da República. E que fará também a crítica da política vigente, enquanto pulsar e renovar-se a sua voz de poeta, mesmo sob a condição um tanto contraditória de assessor de um ministro getulista, o mineiro Gustavo Capanema.
O tom abertamente polêmico de outros poemas, como o controvertido “No meio do caminho”, o mais famoso deles, chegou a gerar uma quantidade considerável de réplicas, achaques e críticas, tendo este material sido recolhido por Drummond em 1967 no volume Uma pedra no meio do caminho – Biografia de um poema; “O sobrevivente” instigaria o poeta Murilo Mendes a escrever, em 1956, no final da “Advertência” constante na sua coletânea poesias (1925-1955), uma frase que é um verdadeiro e direto arremate a esse poema de Drummond, “Não sou meu sobrevivente, e sim meu contemporâneo”. Neste rol, figura também o “Poema de sete faces”, que será referido mais adiante, em andamento e performance de comparação analítica com dois poemas do último livro do poeta, Farewell, publicado em 1996, nove anos após na sua morte.
Alguma poesia define, de modo certeiro e inequívoco, parte da orientação subsequente do fazer poético drummondiano. Poética que, ao ser inaugurada, se reinventará continuamente. E que se entremostrará concordante, de um lado, com a estruturação semântica e formal inicial, quando estas categorias do poético forem se alargando e elastecendo ao máximo de suas possibilidades. De outro lado, tal estruturação poderá também vir a contrair-se, e assim, em certos instantes, intentar renegar-se, no entanto ainda com o propósito interno da própria reinvenção, pelo abandono e eliminação do já escrito.
Em Brejo das almas, o segundo livro, datado de 1934, Ana em que mudou-se para o Rio de Janeiro, alguns poemas ainda serão escritos com o tom típico de um Drummond assumidamente provinciano, mas já ensaiando uma linguagem prenunciadora dos temas contemporâneos, universais e urbanos posteriores. Mais à frente, em Sentimento do mundo (1940), ele começará a mostrar verdadeiramente a sua faceta de universalidade e maior abrangência temática, incluindo aí uma safra de novos conteúdos, embora sem desvestir-se totalmente dos temas localistas iniciais. Tal fase de sua poesia vai desembocar em A rosa do povo (1945), livro que absorveu toda a radicalidade do gauche, do engajado e do militante comunista temporário, mas que continuaria alinhado à luta social do país daqueles tempos. Os poemas “cívicos” – no termo cunhado por José Guilherme Merquior –, extensivamente expressivos e dedicados à parcela da sociedade afastada da centralidade das decisões, e portanto refreada em seus impulsos e desejos mais legítimos, em suas carências e necessidades mais urgentes e características, serão uma prática constante nessa poesia, promovendo uma inegável e saudável abertura ao mundo de fora e dos homens.
Perfazendo aqui uma guinada arbitrária, entretanto sem muito distanciar-se dessas obras iniciais, Fazendeiro do ar é o livro de 1954, cujo título sui generis e insigne originou-se de um episódio curioso, mostrando outra das facetas do Drummond auto-irônico. Surgiu da reclamação e do protesto do poeta ao receber uma cobrança de impostos descabida, pela posse de uma fazenda deixada por seu pai, fato que o levou a escrever uma carta informando à fiscalização que não poderia pagar a quantia estabelecida, já que era apenas “um fazendeiro do ar”.
O livro contém um poema intitulado “Estrambote melancólico”, que põe a descoberto o fato de que, nos nossos dias, mesmo tendo-se em conta as turbulências da vida cotidiana, o sentimento melancólico permanece, talvez não com a intensidade romântica e subjetivista de antes, mas agora limitado pelas novas imposições de urgência, eficácia e competitividade. O poema revela um tratamento entre sério e irônico que o poeta confere a tema tão solene. Ele utiliza-se de uma forma fixa, o soneto, que aparece com um estrambote, neste caso, apenas um verso acrescido aos quatorze anteriores do poema. E, suprema ironia, ao escrever uma poesia altamente vinculada e comprometida com seu tempo, não esquivava-se também de praticar uma forma ancestral e de uso relativizado e delimitado pela competência intrínseca e pelo nível de exatidão rítmica de cada poeta.
Nos quatro primeiros versos, Drummond deixa entrever o estado melancólico a partir do qual se estratifica seu poema: “Tenho saudade de mim mesmo, sau-/ dade sob aparência de remorso, / de tanto que não fui, a sós, a esmo,/ e de minha alta ausência em meu redor.” São palavras definidoras deste quarteto, relacionadas a melancolia, saudade, remorso e ausência, ou ainda, expressões como “a sós’ e “a esmo”. O poema deflagra-se quando ele anuncia e faz a confissão de saudade que tem de si mesmo, embora esta seja uma espécie de saudade que adquire a feição incômoda de um remorso inesquivável e sem remédio. Saudade que traduz também as vivências pessoais e coletivas que ele talvez não teve, embotado pela solidão (como na expressão “a sós”) e pelos descaminhos do abandono (caso da expressão “a esmo”). Tudo isto reforçado por uma ausência que não é apenas a do mundo ao redor, mas a sua própria, que naquele instante paira acima das circunstâncias humanas.
A adjetivação “alta”, proposta para ausência, funciona em termos bastante positivos, numa recuperação dos três primeiros versos, sendo como é uma “alta ausência” dele enquanto poeta que recria o mundo e a linguagem. E ainda mais, apesar desta diferenciação, essa ausência não exclui o mundo de fora, quando ele tem notícia e interage com o que se passa ao seu redor.
A referência interna mais direta é o lugar onde está instalado – escritório, quarto ou sala – e onde pensa ou escreve. Espaço interior que tem o dom de facilitar a abstração de si mesmo e o mergulho constante no eu. E de outra parte, na condição de espaço privilegiado, pode vir a permitir também a sua reiterada reflexão do real,, a visão
Instantânea de uma realidade que o deixa perplexo, e o que é mais definidor ainda, a absorção do mundo externo através do pensamento, dos sentimentos e das emoções proporcionados pela poesia. A experiência individual e social – vivida ou imaginada – é apreendida neste momento único em que ele comete seus versos, arruma suas estrofes, constrói o seu poema e ultrapassa as fronteiras do próprio corpo.
Em artigo escrito para o Jornal de Resenhas da Folha de S. Paulo, na ocasião do lançamento de Farewell, o poeta Alcides Villaça, estudioso de Drummond, fez um registro importante: “a figura inaugural do ‘gauche’ culmina na de ‘O malvindo’”. Na trilha aberta pelos termos comparativos dessa afirmação, pode-se acrescer inicialmente que no “Poema de sete faces’ há a indicação de um estágio premonitório intuído pelo próprio poeta, que vai passar a emancipar-se através da condição requerida de “gauche”, Aliás, o poeta Affonso Romano de Sant’Anna desenvolveu, no período de 1955 a 1969, sua tese de doutorado O gauche no tempo, sobre a ideia característica de “gauche” presente no “Poema de sete faces”, inclusive submetendo seu trabalho a um computador para, entre outras coisas, obter dados estatísticos e “quantificar o emprego do verbo” na poesia de Drummond.
O fato é que se sobrepõem no “gauche” as nuances de uma consciência tremendamente irônica dos acontecimentos diários e das relações surdas e controvertidas entre os homens. Essa consciência irônica e à sua maneira humana, histórica e política, envolve fortemente a capacidade de fazer rir, de rir tanto de si como dos outros. O anjo torto que diz “Vai, Carlos! ser gauche na vida”, na época do “suposto nascimento” do poeta – pois que oscilante entre a sua realização unilateral em poema e o ritual comum à normalidade dos nascimentos –, será o mesmo que o abandonará com os requintes do Deus castroalvino. Mas ele ficará ainda com a leveza e a vastidão do seu coração, com uma cota de esperança que aos poucos se suavizará e declinará, com o tempo sendo substituída por uma forma geral de ver o mundo discreta, porém descrente e desvestida de ilusões.
Essa perspectiva irá inverter-se bruscamente em “O malvindo”, no qual demonstrará um profundo e irado desgosto, emparelhado a um duro e amargo ceticismo. A iminência da destruição total do corpo, a fatalidade inelutável da vida se extinguindo, mais a inutilidade de um passado vivido ou um futuro inexistente, encontram eco nestes versos: “Inútil corpo, alma inútil/ se não transfunde alegria/ e esperança de renovo/ no universo fatigado/ em que repousa e não ousa./ Sua ficha foi rasgada,/ por ausência de sinais./ Seu nome – por que sabê-lo? E sua vida completa/ já nem é vida, é jamais”.
Se no “Poema de sete faces” ele situa-se sob uma malha temática que envolve a memória da província e da família, as poucas relações de amizade que serão cultivadas permanentemente, o seu remover-se ante um urbanismo não tão ostensivo quanto o de hoje, em “O malvindo” fica patente um balanço final e melancólico do que foi a sua experiência de poeta, funcionário público e jornalista, além de marido, pai e amante, tendo como saldo apenas a certeza de uma morte que rondava bem perto, como nos versos iniciais: “Vive dando cabeçada./ Navegou mares errados,/ perdeu tudo que não tinha,/ amou a mulher difícil,/ ama torto cada vez/ e ama sempre, desfalcado,/ com o punhal atravessado/ na garganta ensandecida”.
O “Poema de sete faces” suscitou outra colocação de evidente interesse aqui, do escritor e crítico Silviano Santiago, no “Posfácio” a Farewell: “Sua última coleção de poemas, planejjada enquanto em vida (...), abre sintomaticamente com um texto que contradiz o mais antigo poema publicado em livro: ‘Unidade’”. Transitando pela via do confronto e da colisão verificada preferencialmente no feitio conteudístico e na escolha da voz que se ensejará em cada poema, à maneira de apreensão do dito como uma espécie de fixação do sujeito da fala, no “Poema de sete faces” constata-se uma maior ocorrência do sujeito que fala de si, ainda quando referir-se em terceira pessoa a um “homem” que continua sendo ele mesmo. Este efeito não cessará, nem com a inserção da extensão “gente”, atrelada e puxada por um “eu” que abre a confissão ingênuo-coloquial da última estrofe: “Eu não devia te dizer/ mas essa lua/ mas esse conhaque/ botam a gente comovido como o diabo”.
Em “Unidade” – o único poema que, segundo a vontade de Drummond, destoará da ordem alfabética de Farewell – há um “nós” que intenta solidarizar-se na luta contra a destruição dos seres e elementos naturais, tanto em sua relativa mobilidade de “plantas” e sensibilidade de “flor”, como na sua imóvel e impotente dureza de “pedra”. Tais elementos humanizam-se no cerne de um sofrimento universal, como seres-objetos indispensáveis à compreensão da realidade do mundo, que sem eles não poderia ser dita, vivida ou escrita pelo poeta.
Estão ali, talvez, apenas para evidenciar e após deixar intocada uma contradição aflorante e recorrente, e de certo modo insolúvel, pela impossibilidade de inclusão de um novo “nós” de representação e caracteres humanos na inevitabilidade e consecução desse sofrimento. Um “nós” que assim não retém o privilégio de banhar-se no misterioso rio do sofrimento, que não possui a percepção nem “a chave da unidade do mundo”, porque demonstra-se em alguma medida incapacitado e impermeável à dor que se manifesta naqueles elementos e serres naturais: “Não temos nós, animais,/ sequer o privilégio de sofrer”.
No seu confessar-se enviesado, no entanto sustentado por ímpar e surpreendente eficácia, Drummond praticamente esgotou as formas de dizer as vivências cotidianas do homem brasileiro contemporâneo e multifacetado, que com frequência se reconhece nessa poesia. Uma firme e alta sintonia a um presente no qual a vida não permite tréguas, inseparável do instante vivido ou a viver, talvez o levasse a relutar entre os foros oponentes de uma entrega total ao amor e o afastamento deliberado ou forçado dos seus des/semelhantes. O poeta, que em certos instantes, reprimia-se e esquivava-se, poderia seguir também se doando por inteiro a esse amor tão insistentemente cantado em momentos definidores e solidários da obra. Ou em livros mais específicos do enlace amoroso como Corpo (1984), Amar se aprende amando (1985).
O Amor natural, de publicação póstuma em 1992, todavia já conhecido de uns poucos em 1981, e com poemas editados em revistas de nu feminino da década de 1970, é o mais eroticamente explosivo deles. Contém uma fruição amorosa radical que parece desmitificar um Drummond resguardado enfaticamente da ambiência externa e da constância de contatos humanos mais dilatados no recato de uma propalada e invencível timidez, como um quase fechar-se ao mundo circundante.
Com a exposição pública através do exercício continuado da crônica em jornais e do acompanhamento direto da edição de seus mais de quarenta livros, no Brasil e em traduções estrangeiras, em coleções, reuniões ou antologias, ele não deixará de desfrutar, ao longo de quase sete décadas de poesia, a partir de uma conquista paulatina e paciente, da atenção e do alcance de um público significativo e fiel. Em contrapartida, logrará contemplar seus leitores com o fundamental da obra publicado enquanto vivo.
Numa linhagem de grandes poetas brasileiros, Drummond empenhou-se, no decurso de toda uma vida impulsionada por um estado permanente e privilegiado de poesia, em recompor os efeitos, comoções e premissas de uma solidão imponderável, aos transplantar para o poético imagens e vivências sociais do coletivo, com a coragem de dividir e expor tanto o mais rasteiro e poeticamente óbvio, como o mais raro e insuspeitado.
Suplemento Cultural (CEPE), ano XV, novembro de 2000






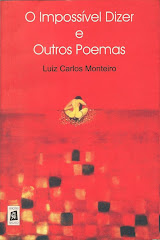
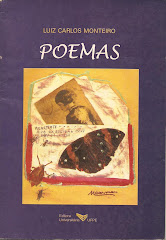
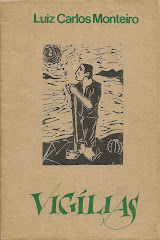


oi luiz tudo bem fico feliz de ve seu blog cheio de poesias tao lindas tenho orgulho de ser sua prima um grande abraço
ResponderExcluircicera rodrigues de aquino