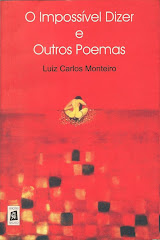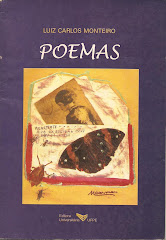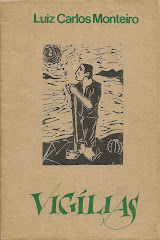O RETÁBULO DE JERÔNIMO BOSCH: UMA POÉTICA EM LOUVOR DA VIDA
Diante da poesia de Everardo Norões em Retábulo de Jerônimo Bosch constata-se, com margem razoável de acerto, que ele chegou a um ponto de sua criação que pode ser traduzido como domínio da palavra poética. Uma afirmação deste tipo suscita questionamentos, embora, de início, devam ser afastados resquícios da rigidez totalizante que sempre acompanham as afirmações. O fato é que Norões, um cearense radicado no Recife, vem mantendo um cuidado especial no manejo da linguagem poética desde os Poemas Argelinos (1981), porém se manifestando com mais força em A Rua do Padre Inglês (2006).
A Rua do Padre Inglês traz poemas que têm como características básicas a densidade e a precisão, onde se inclui com bastante desvelo a utilização constante de insights técnicos como comparações, metonímias e metáforas. E isto resulta numa multiplicidade de efeitos estilísticos, fonéticos e rítmicos buscados e rebuscados poema a poema, verso a verso, palavra a palavra. Assim como no Retábulo de Jerônimo Bosch, há poemas e palavras que estabelecem relações linguísticas, notadamente nominativas, fora da língua-pátria, e também retratam vivências, paisagens, situações, encontros e ausências referentes a outros países e regiões, que não apenas o Brasil.
Tal zelo em sua poesia se reflete na grande maioria dos versos e poemas que constrói, mesmo quando troca a rima pelo ritmo, a música pela liberdade da escrita, e isto sem sacrificar a fruição nem o reflexivo. O leitor verificará que alguma sonoridade esperada no andamento de um poema poderá, de repente, ser quebrada. O simples deslocamento de um vocábulo altera foneticidades óbvias, promovendo, assim, um novo olhar estilístico e, em consequência, uma nova maneira de ser ler o poema. É preciso, ao fim de determinadas estrofes, um retorno ao início do poema ou da estrofe para melhor verificar correlações específicas do poético como o emprego localizado de anáforas, aliterações, assonâncias e recortes rítmicos dissonantes.
Livro afora, os exemplos são numerosos. Porque ninguém se engane: mesmo o poema de inspiração, aquele que vem como um jorro na hora em que é escrito, passará por alguma transformação posterior. Muitos poetas, especialmente os românticos, não tiveram o tempo de vida necessário para definir as formas finais de sua escrita ou cotejar versões de um mesmo texto. Já outros, que viveram mais e puderam trabalhar melhor o que escreveram, na escolha, no acréscimo ou na supressão de palavras, conseguiram desvendar minúcias formais, promovendo a inovação de estruturas materiais em seus versos.
Norões fixa e rememora situações de conjunto que alertam para questões políticas ainda não totalmente esclarecidas. No poema “Os desaparecidos”, traça um quadro do que foi a destinação de quem se opunha ao regime militar no Brasil: a morte sem aviso ou lápide, o silenciamento de quem deixou de ser visto ou ouvido. Os versos retratam os acontecimentos velados e o poema assume voz coletiva e histórica. Mas podem fazer vir à tona a individualidade ansiosa de quem deseja escapar do desterro, à espera de um barqueiro símile dos mensageiros de boas-novas como em “Dies irae” (Dia de ira). Ou à espreita em “Janela”, um poema do bloco IV, que vale a pena ser citado: “Uma janela dilacera a paisagem:/ lá fora não é o meu país./ Arde a palavra estrangeira/ em minha palma:/ tempo traço giz.// O silêncio/ retalha nossa língua:/ há tantas horas tristes nesta tarde.../ A cal do muro aviva esse vazio/ e cala.”
Nos sete poemas do bloco V, intitulados Meditações de Frei Martinho de Nantes, percute a voz, a solidão e a persona histórica do Frei que cuidou dos índios Cariris às margens do rio São Francisco. Frei Martinho, do mesmo modo que a maioria dos religiosos que vieram para o Brasil na colonização, tinha muito de aventureiro, mesmo quando se pensa na sua missão educativa e doutrinadora. No seu roteiro missionário estava presente um modo de vida obstinado que nem as hostilidades ambientais do locus sertanejo, o convívio difícil com os indígenas, a demora na chegada de notícias da terra francesa o levavam a desanimar. A sua grande motivação talvez fosse legar, ao fim, um possível testemunho escrito aos séculos depois do seu.
A alternância entre o mundo rural nordestino e a vivência em outros lugares e países se processa através da subdivisão dos blocos do Retábulo. Em duas partes torna-se mais explícito o relato rural das vivências familiares. O bloco I mostra o “tempo caprino” no país do algodão: tudo ali se faz em lida e brancura, em breu e escuridão noturna, com poucos e bem vividos momentos de lazer. O poema pode ser desenredado da volta ao abrigo da casa para um trago e a refeição, do intervalo para a música, o sono e o voo, da desolação das mãos maternas que dizem adeus para sempre.
No bloco VI, exceto por “Os encourados”, nova designação para os vaqueiros que tangem e botam os bois no pasto ou em jornada, a religiosidade se destaca em poemas ainda que de teor profano como “Ofício” e “Bolero”, “As tias’ e “Natal”. Pode haver, como no bloco final VII, a interpenetração natural dos dois universos: “O quarto de Faulkner” aparece junto a “Os do vento nordeste”, estabelecendo associações entre o localista e o externo, o deserto da caatinga e a planície americana. Referências que se constatam e se repetem também em outros instantes envolvendo personagens nativos nordestinos e de outras paragens, sejam francesas, árabes, argelinas, latino-americanas ou italianas.
Everardo Norões escreve tanto sobre coisas simples, comuns e cotidianas, como sobre assuntos metafísicos, graves, não-fáceis e tensionados. Estabelece um equilíbrio entre as duas instâncias, sem apelo ao popularesco, mantendo sua inclinação de poeta erudito. Pode-se discordar dele, da metaforização intrincada que empreende às vezes, mas não se pode duvidar de seus firmes e definidos propósitos em poesia. Mesmo porque essa poesia tem o sentido de demarcar um espaço essencial e instigante no mundo para a louvação do amor e da vida.
UM POEMA DE LAU SIQUEIRA
Lau Siqueira é poeta nascido em Jaguarão (RS), mas vive em João Pessoa (PB) desde 1985. Do seu quarto livro, Texto sentido, retiramos o poema “Teia” que fala na mudança e no aprendizado de vida do poeta. Ele assume a atitude de quem retorna da viagem dos primeiros anos de juventude para o choque da vida cotidiana. Não aponta mais caminhos nem busca soluções políticas e existenciais datadas, voltando-se apenas para “o círculo visceral da existência”. Admite também que viveu uma espécie de loucura leve e sem decadência, o medo e a superficialidade que não incluía “a lapidação da alma”. A essência, agora, configura-se na vida em si, na radicalidade de sentir-se humano e frágil, atento e predisposto às vicissitudes e desencontros, contudo humilde e corajoso o suficiente para reconhecer que “pleno de [si] mim/ não sei [sabe] nem sou [é]”. Confira-se o poema:
então fui diluindo a loucura
ao compreender que a nascente
de tudo era um caos
urbano e diurno
aprendi a velejar pelas calçadas
como uma sombra entre sombras
sem inventar rastros
ousei vestir os sapatos da morte
e revelar-me ao círculo visceral
da existência
nem fui o
insano ou o decrépito humano
apenas despi a coragem e vivi
sem pele a lapidação da alma
perdi o que
não era essência
e agora
pleno de mim
não sei nem sou
PARACHOQUES
O país ansiado é uma fábula comum
feita de liberdade, alegria e justiça.
COTIDIANAS
Em 6 de fevereiro passado, o jovem Alcides do Nascimento Lins levou dois tiros na cabeça e foi morto defronte à sua casa, no bairro da Torre, no Recife. Até aqui nada de novo, não fosse Alcides um negro de 22 anos e morador de comunidade pobre que se destacou por ter passado no vestibular de Biomedicina da UFPE, com a melhor classificação entre os egressos da rede pública de ensino. Terminaria seu curso em setembro deste ano. Sua mãe D. Maria Luiza foi catadora de lixo e sentia um orgulho especial pelo filho. Os moradores da Vila Santa Luzia, onde morava, admiravam-no e conclamavam seus filhos a tê-lo como exemplo.
O fato crucial é que Alcides não foi morto em confronto com a polícia por algum tipo de contravenção que houvesse praticado. Foi executado por dois bandidos cruéis e alucinados porque não soube dar uma informação. Alcides poderia ter tido o mesmo destino deles: roubar, matar, estuprar, traficar. Mas tentou o caminho inverso, a busca de cidadania pelo estudo e pela persistência de quem praticamente nada tinha a seu favor. Seu sonho foi interrompido pela fatalidade inevitável de uma morte por motivo banal e desarrazoado. Um dos seus assassinos, menor de idade, já está encarcerado. O outro, de maior, conseguiu burlar o regime semi-aberto e fugir. Estive na missa em louvor de Alcides, no Centro de Convenções da UFPE, e verifiquei que uma espécie de comoção coletiva tomava conta de todos os rostos ali presentes. A sociedade, os colegas e familiares de Alcides nada mais têm a esperar do que a devida e necessária justiça para o crime.
RELEITURAS
Olinda: 2º Guia prático, histórico e sentimental de cidade brasileira – Gilberto Freyre. Em 2007, saiu a sexta edição de Olinda: 2º Guia prático, histórico e sentimental de cidade brasileira, obra de Gilberto Freyre de 1939, contando com apresentação e textos de atualização de Edson Nery da Fonseca. Trazia ainda as ilustrações do pintor Manoel Bandeira, o mapa turístico da artista plástica Rosa Maria e os desenhos e capitulares de Luis Jardim. Gilberto Freyre já tinha escrito anteriormente um Guia Prático para o Recife que serviu, inclusive, de inspiração a um poema de Carlos Pena Filho. Este de Olinda inicia-se com a origem do nome Olinda, que aborda desde a especulação bastante conhecida e atribuída a um criado de Duarte Coelho e depois ao próprio Duarte, para abarcar também monumentos, igrejas, conventos e prédios antigos da cidade. O mar comparece com sua beleza azul-verde e as jangadas, barcaças e canoas que o recortam. O Guia não deixa de falar sobre a forma como vivem os moradores de Olinda, seus trabalhos, hábitos, costumes e lazer. Sobre a luz de Olinda, Freyre escreveu este trecho: “É ela que dá às águas do mar que se veem do alto de qualquer dois oito montes de Olinda e aos montes da cidade que se veem do alto-mar, vindo de vapor da Europa ou dos Estados Unidos, do Norte ou do Sul do Brasil, a riqueza extraordinária de cor que encantou ao alemão Guenther e já tinha encantado o pernambucano Joaquim Nabuco”. Passagens como esta se sucedem no livro, tanto reafirmando o estilo sinuoso e elíptico do autor, quanto a sua forte sensibilidade poética. A prosa poética impregna o Guia de Olinda que se torna, assim, de agradável leitura, como a cidade e o leitor bem o merecem. E não só para quem é de Pernambuco, mas talvez muito mais para quem venha de outros locais ou cidades.
PARA SENTIR O TEU CORPO
É tão ínfima a distância
quanto viva a lembrança –
E é tão vivo e tão próximo teu corpo
que não se perde a esperança
sábado, 27 de fevereiro de 2010
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XII
O APRENDIZADO DE NÉLIDA
A construção de um testemunho intelectual com entradas no foro existencial sempre seduziu poetas e ficcionistas. As referências e exemplos são numerosos no tempo histórico-literário, começando com as civilizações greco-romanas, passando pelo medievo, até chegar à contemporaneidade. Esse testemunho pode manifestar-se em diários, cartas, poemas, memórias, discursos, diálogos, textos de autocrítica e ensaios autobiográficos. No caso brasileiro, de Machado de Assis a Carlos Drummond de Andrade, aparece de modo direto ou implícito na prosa de ficção memorialística ou autobiográfica ou na poesia que não esconde o eu subjetivo porém descarnado e centrado no referencial histórico do autor.
Com a publicação de Aprendiz de Homero, Nélida Piñon disponibiliza ao público o seu próprio testemunho intelectual que envolve ensaios sobre carreira, preferências literárias, concepções de assuntos polêmicos como magistério, religião, família ou a condição da mulher. Obviamente que em sua obra, configurada por uma competência que referenda a extensão, ela vem se descobrindo e descobrindo as faces ignoradas de seus leitores e personagens, além de mapear um país que assumiu como seu, quando se pensa nas suas origens galegas. A estreante de 1961 com Guia mapa de Gabriel Arcanjo, que teve recepção favorável da parte do crítico Fausto Cunha, não mais parou de escrever e vem se afirmando como autora de romances antológicos e reconhecidos de público, a exemplo de A casa da paixão, A força do destino e A República dos sonhos. Estes trabalhos abordam respectivamente, entre outras coisas, um erotismo sem concessões mas não pornográfico, a paródia bem humorada de uma ópera de Verdi e a imigração espanhola para o Brasil, mais especificamente de um grupo de pessoas que veio da Galícia. O reconhecimento internacional alcançado por Nélida Piñon comporta uma extensa listagem de prêmios, homenagens, traduções ampliadas de seus livros, passagens por universidades, além de títulos de doutorado honoris causa.
A mulher ocupa um lugar destacado nos ensaios de Aprendiz de Homero. Começa com Sara a conspirar contra Abraão e a rir de Deus por querer o divino romper a sua esterilidade depois de velha. A memória de Sara é a memória da submissão de todas as mulheres ao patriarcalismo de Abraão e à unilateralidade religiosa de Jeová, embora ela esconda segredos que ouviu dos diálogos entre ambos, a que nem o próprio Abraão conseguiu ter acesso. Em “Dulcinea – a agonia do feminino”, retorna até o texto cervantino, a inquirir sobre o visionarismo de Maritornes, mulher mundana e empregada da estalagem onde o Quixote e Sancho se hospedaram, e que não aceita o fato de o Cavaleiro ter idealizado uma dama tão impossível de existência quanto Dulcinea.
Todo um tratado sobre a ilusão é feito em “O espetáculo da ilusão”, que talvez seja um dos textos de mais difícil realização, pois analisa por dentro o livro A doce canção de Caetana, da própria Nélida. Uma leitura dentro da leitura, onde ela fornece as motivações para a escrita do romance, informa sobre a evolução da personagem Caetana, que tem como objetivo transformar-se em Maria Callas, numa apresentação teatralizada no lugarejo Trindade. A romancista não esquece de aludir à performance e ao sacrifício de artistas que impulsionam o teatro mambembe: “Caetana, contudo, na condição de atriz pobre, integra-se às expectativas geradas pelo espetáculo teatral que se anuncia no cine Íris. Sua natureza exigente requer da grei de artistas ativa participação. E, graças à ilusão que vai semeando em torno, sentem-se todos condenados à aliança imposta pela arte”.
As grandes amizades refletem-se nos textos sobre Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa, estendendo-se a suas mulheres. Mas, o vetor analítico de Nélida não deixa ofuscar a sua crítica da obra de ambos, sobre a narrativa que engendraram. De Vargas Llosa em “O escriba Mario” ela faz o percurso crítico aprofundado do seu livro El hablador, onde Mario é personagem e autor ao mesmo tempo, narrador onisciente e sujeito participante junto aos índios machiguengues do Peru. Segundo ela, Vargas Llosa “infiltra o texto com artimanhas e artifícios. Impõe-nos, como consequência, o convívio com um autor que, de seu mirante de observador, fortalece-se por meio da perícia com que situa o imbróglio narrativo sobre o tablado livresco”.
Em Aprendiz de Homero, Nélida Piñon perfaz um roteiro crítico-interpretativo que alia uma marca subjetiva visível em toda a sua prosa, ao expressionismo de afirmações seguras e pensadas racionalmente sobre a obra de numerosos autores, canônicos ou não. Por isso seu estilo pode, em certos instantes, oscilar e bipartir-se explicitamente entre o real e o onírico, entre a cidade e o campo, entre o antigo e a modernidade. E é neste ponto que ela faz a defesa da inserção do clássico no contemporâneo, e vice-versa. Disserta sobre o deslocamento das massas rurais para os alojamentos urbanos precários e compartimentados, descarnando certa aculturação proveniente do êxodo rural para as grandes capitais, da substituição da natureza e da vida simples pela luta desigual pela sobrevivência, que só permite de passagem e fugazmente a consecução do tempo e do lugar para o sonho.
UM POEMA DE MONTEZ MAGNO
Em 1978, o poeta e pintor pernambucano Montez Magno publicou Floemas, volume de poemas que se caracterizam por uma economia interna da condensação e da brevidade. Tais poemas encontram-se permeados de uma ironia vibrante e contundente, às vezes leve, com laivos de uma metafísica para cultivo próprio e de quem se dispuser a lê-lo. O primeiro poema de Floemas, cujo título aparece apenas no índice do livro como sendo o mesmo do primeiro verso, “Folhas livres, intactas, caindo”, traduz um firme contato com a natureza, a contemplação ativa dos elementos em volta e o roteiro áspero da memória:
Folhas livres, intactas, caindo
no chão macio do ar envolto em finas
substâncias e acaso.
Olho, e enquanto cai a folha se repete
pura e leve no gesto imaginado
na manhã de silêncios e afagos.
Traço no tempo, solta, a memória
de inúmeras esperas,
de imagens arquivadas, desenhos construídos e firmados
dos quais me lembro apenas a demora.
Aqui o movimento das folhas faz-se material pelo que as compõe de substância viva e ainda pulsante, e imaterial pelo acaso das imagens e sombras desenhadas. As folhas, em ambiência aleatória, se movem sem direção ordenada previamente até o solo. Há um momento em que alguém as observa e recria artisticamente, retirando-as da memória que não se emerge nem se manifesta com facilidade. Poemas com essa disposição contemplativa do movimento das “folhas” repetem-se em vários instantes da obra de Montez Magno, a partir de outros elementos como a chuva, o rio, o monte, o sol, a floresta, o deserto, o céu e a fonte.
PARACHOQUES
Toda poesia autêntica tem um fundo essencial de verdade:
Um substrato lírico que se faz visível, palpável e onipresente.
COTIDIANAS
1) Em 9 de fevereiro, Luzilá Gonçalves Ferreira deu a nota seguinte, na sua coluna do Diario de Pernambuco, Letras às Terças: Sobre mulheres - O blog de Luiz Carlos Monteiro desta semana está dedicado a mulheres escritoras. A destacar um estudo sobre Versilêncios, poemas de Gerusa Leal e A escrita da nova mulher, coletânea de artigos diversos, sobre aspectos da obra de Edwiges Sá Pereira, Ercília Cobra, Ignez Mariz, Virginia Woolf, Albertina Berta, Maria Augusta Meira de Vasconcelos. Suas autoras cursaram Letras na UFPE e são agora especialistas e grandes difusoras da literatura em colégios e Faculdades. Entre elas Andrezza Almeida, Irma Maranhão, Ana Maria Coutinho, Ilzia Zirpoli, Telma Dutra, Marli Hazin, Alcina Bechara. Endereço: http://www.omundocircundante.blogspot.com
2) Passei o Carnaval em Sertânia, como venho fazendo já há algum tempo. Revi velhos amigos, fiz outros novos, passeei pela terra sertaneja. Não se pense que lá não existe Carnaval. A abertura, na Praça de Eventos, foi feita pelo maestro Spok, cuja performance estendeu-se noite afora. Nas ruas, foram muitos os blocos e troças que desfilaram: o Bloco dos Garis, o Leite (apenas para mulheres), os Tangerinos, o Xerém, entre outros. Na quarta-feira de cinzas, exatamente quando retornava ao Recife, os foliões do Bacalhau do Romeu estavam em concentração na Rua Velha. É altíssimo o consumo de álcool, mas tudo correu em paz, sem nenhuma morte. Uma ou outra briga sem maior importância. Agora, pós-Carnaval, é hora de retomar o cordão de atividades interrompidas durante a folia.
3) Na sexta-feira 29 de janeiro, Nélida Piñon foi contemplada em Cuba com o Prêmio Casa de las Americas, na categoria Literatura Brasileira. Em maio de 2008, Homero Fonseca, então um dos editores da revista Continente, me pautou para escrever um texto sobre Aprendiz de Homero, o livro vencedor. O texto saiu em julho, na edição 91 da revista, e é o que vem republicado acima.
RELEITURAS
O comedor de sonhos - Cláudio Aguiar. A fábula de Uoromaca, o “maciste” halterofilista que representa, alegoricamente, a opressão e a violência nos países latino-americanos, quando passa a chicotear as pessoas, e elas gostam e pedem mais, formando-se aí a instituição nacional da Surra. O casamento exótico e extremado de Rosa de Windsor, a loucura de Dino Silas observada de fora talvez por outro louco que se pretendia normal e a sina de Juarez Morente que teve sua vida pessoal abalada porque lhe roubaram toda possibilidade de silêncio, perfazem recortes do substrato ficcional de narrativas de Cláudio Aguiar, em O Comedor de Sonhos. Neste livro, diferentemente de Caldeirão ou do longo ensaio sobre Franklin Távora, a prosa de Aguiar intenta ultrapassar, propositivamente, as fronteiras regionais. Tal prosa traz, no seu “corpus” de sonho aliado a uma espécie de erudição natural, a negação de reflexos localistas. Cada conto é iniciado pelas citações de autores ou referências a personagens de livros de domínio universal – A Bíblia, Aristóteles, Sêneca, o provérbio chinês, García Lorca, o guerreiro Napoleão. Apenas o texto “Os Cavalos Inteligentes” possui ambientação no Recife, e ainda assim, segundo o narrador, feito mistério “um tanto forçado pelas circunstâncias, se não me falasse mais alto essa inusitada compulsão de recordar um velho amigo”.
PONTO DE CORTE
Não te abateu a recusa
da comissão dos senis –
esse teu rosto de lutas
nunca tentou evadir-se –
se isto agora ocorresse
não mais serias inteiro –
se teu mister verdadeiro
por outra te parecesse
com falsas mortes em vida,
sem seu quinhão de argúcia.
A construção de um testemunho intelectual com entradas no foro existencial sempre seduziu poetas e ficcionistas. As referências e exemplos são numerosos no tempo histórico-literário, começando com as civilizações greco-romanas, passando pelo medievo, até chegar à contemporaneidade. Esse testemunho pode manifestar-se em diários, cartas, poemas, memórias, discursos, diálogos, textos de autocrítica e ensaios autobiográficos. No caso brasileiro, de Machado de Assis a Carlos Drummond de Andrade, aparece de modo direto ou implícito na prosa de ficção memorialística ou autobiográfica ou na poesia que não esconde o eu subjetivo porém descarnado e centrado no referencial histórico do autor.
Com a publicação de Aprendiz de Homero, Nélida Piñon disponibiliza ao público o seu próprio testemunho intelectual que envolve ensaios sobre carreira, preferências literárias, concepções de assuntos polêmicos como magistério, religião, família ou a condição da mulher. Obviamente que em sua obra, configurada por uma competência que referenda a extensão, ela vem se descobrindo e descobrindo as faces ignoradas de seus leitores e personagens, além de mapear um país que assumiu como seu, quando se pensa nas suas origens galegas. A estreante de 1961 com Guia mapa de Gabriel Arcanjo, que teve recepção favorável da parte do crítico Fausto Cunha, não mais parou de escrever e vem se afirmando como autora de romances antológicos e reconhecidos de público, a exemplo de A casa da paixão, A força do destino e A República dos sonhos. Estes trabalhos abordam respectivamente, entre outras coisas, um erotismo sem concessões mas não pornográfico, a paródia bem humorada de uma ópera de Verdi e a imigração espanhola para o Brasil, mais especificamente de um grupo de pessoas que veio da Galícia. O reconhecimento internacional alcançado por Nélida Piñon comporta uma extensa listagem de prêmios, homenagens, traduções ampliadas de seus livros, passagens por universidades, além de títulos de doutorado honoris causa.
A mulher ocupa um lugar destacado nos ensaios de Aprendiz de Homero. Começa com Sara a conspirar contra Abraão e a rir de Deus por querer o divino romper a sua esterilidade depois de velha. A memória de Sara é a memória da submissão de todas as mulheres ao patriarcalismo de Abraão e à unilateralidade religiosa de Jeová, embora ela esconda segredos que ouviu dos diálogos entre ambos, a que nem o próprio Abraão conseguiu ter acesso. Em “Dulcinea – a agonia do feminino”, retorna até o texto cervantino, a inquirir sobre o visionarismo de Maritornes, mulher mundana e empregada da estalagem onde o Quixote e Sancho se hospedaram, e que não aceita o fato de o Cavaleiro ter idealizado uma dama tão impossível de existência quanto Dulcinea.
Todo um tratado sobre a ilusão é feito em “O espetáculo da ilusão”, que talvez seja um dos textos de mais difícil realização, pois analisa por dentro o livro A doce canção de Caetana, da própria Nélida. Uma leitura dentro da leitura, onde ela fornece as motivações para a escrita do romance, informa sobre a evolução da personagem Caetana, que tem como objetivo transformar-se em Maria Callas, numa apresentação teatralizada no lugarejo Trindade. A romancista não esquece de aludir à performance e ao sacrifício de artistas que impulsionam o teatro mambembe: “Caetana, contudo, na condição de atriz pobre, integra-se às expectativas geradas pelo espetáculo teatral que se anuncia no cine Íris. Sua natureza exigente requer da grei de artistas ativa participação. E, graças à ilusão que vai semeando em torno, sentem-se todos condenados à aliança imposta pela arte”.
As grandes amizades refletem-se nos textos sobre Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa, estendendo-se a suas mulheres. Mas, o vetor analítico de Nélida não deixa ofuscar a sua crítica da obra de ambos, sobre a narrativa que engendraram. De Vargas Llosa em “O escriba Mario” ela faz o percurso crítico aprofundado do seu livro El hablador, onde Mario é personagem e autor ao mesmo tempo, narrador onisciente e sujeito participante junto aos índios machiguengues do Peru. Segundo ela, Vargas Llosa “infiltra o texto com artimanhas e artifícios. Impõe-nos, como consequência, o convívio com um autor que, de seu mirante de observador, fortalece-se por meio da perícia com que situa o imbróglio narrativo sobre o tablado livresco”.
Em Aprendiz de Homero, Nélida Piñon perfaz um roteiro crítico-interpretativo que alia uma marca subjetiva visível em toda a sua prosa, ao expressionismo de afirmações seguras e pensadas racionalmente sobre a obra de numerosos autores, canônicos ou não. Por isso seu estilo pode, em certos instantes, oscilar e bipartir-se explicitamente entre o real e o onírico, entre a cidade e o campo, entre o antigo e a modernidade. E é neste ponto que ela faz a defesa da inserção do clássico no contemporâneo, e vice-versa. Disserta sobre o deslocamento das massas rurais para os alojamentos urbanos precários e compartimentados, descarnando certa aculturação proveniente do êxodo rural para as grandes capitais, da substituição da natureza e da vida simples pela luta desigual pela sobrevivência, que só permite de passagem e fugazmente a consecução do tempo e do lugar para o sonho.
UM POEMA DE MONTEZ MAGNO
Em 1978, o poeta e pintor pernambucano Montez Magno publicou Floemas, volume de poemas que se caracterizam por uma economia interna da condensação e da brevidade. Tais poemas encontram-se permeados de uma ironia vibrante e contundente, às vezes leve, com laivos de uma metafísica para cultivo próprio e de quem se dispuser a lê-lo. O primeiro poema de Floemas, cujo título aparece apenas no índice do livro como sendo o mesmo do primeiro verso, “Folhas livres, intactas, caindo”, traduz um firme contato com a natureza, a contemplação ativa dos elementos em volta e o roteiro áspero da memória:
Folhas livres, intactas, caindo
no chão macio do ar envolto em finas
substâncias e acaso.
Olho, e enquanto cai a folha se repete
pura e leve no gesto imaginado
na manhã de silêncios e afagos.
Traço no tempo, solta, a memória
de inúmeras esperas,
de imagens arquivadas, desenhos construídos e firmados
dos quais me lembro apenas a demora.
Aqui o movimento das folhas faz-se material pelo que as compõe de substância viva e ainda pulsante, e imaterial pelo acaso das imagens e sombras desenhadas. As folhas, em ambiência aleatória, se movem sem direção ordenada previamente até o solo. Há um momento em que alguém as observa e recria artisticamente, retirando-as da memória que não se emerge nem se manifesta com facilidade. Poemas com essa disposição contemplativa do movimento das “folhas” repetem-se em vários instantes da obra de Montez Magno, a partir de outros elementos como a chuva, o rio, o monte, o sol, a floresta, o deserto, o céu e a fonte.
PARACHOQUES
Toda poesia autêntica tem um fundo essencial de verdade:
Um substrato lírico que se faz visível, palpável e onipresente.
COTIDIANAS
1) Em 9 de fevereiro, Luzilá Gonçalves Ferreira deu a nota seguinte, na sua coluna do Diario de Pernambuco, Letras às Terças: Sobre mulheres - O blog de Luiz Carlos Monteiro desta semana está dedicado a mulheres escritoras. A destacar um estudo sobre Versilêncios, poemas de Gerusa Leal e A escrita da nova mulher, coletânea de artigos diversos, sobre aspectos da obra de Edwiges Sá Pereira, Ercília Cobra, Ignez Mariz, Virginia Woolf, Albertina Berta, Maria Augusta Meira de Vasconcelos. Suas autoras cursaram Letras na UFPE e são agora especialistas e grandes difusoras da literatura em colégios e Faculdades. Entre elas Andrezza Almeida, Irma Maranhão, Ana Maria Coutinho, Ilzia Zirpoli, Telma Dutra, Marli Hazin, Alcina Bechara. Endereço: http://www.omundocircundante.blogspot.com
2) Passei o Carnaval em Sertânia, como venho fazendo já há algum tempo. Revi velhos amigos, fiz outros novos, passeei pela terra sertaneja. Não se pense que lá não existe Carnaval. A abertura, na Praça de Eventos, foi feita pelo maestro Spok, cuja performance estendeu-se noite afora. Nas ruas, foram muitos os blocos e troças que desfilaram: o Bloco dos Garis, o Leite (apenas para mulheres), os Tangerinos, o Xerém, entre outros. Na quarta-feira de cinzas, exatamente quando retornava ao Recife, os foliões do Bacalhau do Romeu estavam em concentração na Rua Velha. É altíssimo o consumo de álcool, mas tudo correu em paz, sem nenhuma morte. Uma ou outra briga sem maior importância. Agora, pós-Carnaval, é hora de retomar o cordão de atividades interrompidas durante a folia.
3) Na sexta-feira 29 de janeiro, Nélida Piñon foi contemplada em Cuba com o Prêmio Casa de las Americas, na categoria Literatura Brasileira. Em maio de 2008, Homero Fonseca, então um dos editores da revista Continente, me pautou para escrever um texto sobre Aprendiz de Homero, o livro vencedor. O texto saiu em julho, na edição 91 da revista, e é o que vem republicado acima.
RELEITURAS
O comedor de sonhos - Cláudio Aguiar. A fábula de Uoromaca, o “maciste” halterofilista que representa, alegoricamente, a opressão e a violência nos países latino-americanos, quando passa a chicotear as pessoas, e elas gostam e pedem mais, formando-se aí a instituição nacional da Surra. O casamento exótico e extremado de Rosa de Windsor, a loucura de Dino Silas observada de fora talvez por outro louco que se pretendia normal e a sina de Juarez Morente que teve sua vida pessoal abalada porque lhe roubaram toda possibilidade de silêncio, perfazem recortes do substrato ficcional de narrativas de Cláudio Aguiar, em O Comedor de Sonhos. Neste livro, diferentemente de Caldeirão ou do longo ensaio sobre Franklin Távora, a prosa de Aguiar intenta ultrapassar, propositivamente, as fronteiras regionais. Tal prosa traz, no seu “corpus” de sonho aliado a uma espécie de erudição natural, a negação de reflexos localistas. Cada conto é iniciado pelas citações de autores ou referências a personagens de livros de domínio universal – A Bíblia, Aristóteles, Sêneca, o provérbio chinês, García Lorca, o guerreiro Napoleão. Apenas o texto “Os Cavalos Inteligentes” possui ambientação no Recife, e ainda assim, segundo o narrador, feito mistério “um tanto forçado pelas circunstâncias, se não me falasse mais alto essa inusitada compulsão de recordar um velho amigo”.
PONTO DE CORTE
Não te abateu a recusa
da comissão dos senis –
esse teu rosto de lutas
nunca tentou evadir-se –
se isto agora ocorresse
não mais serias inteiro –
se teu mister verdadeiro
por outra te parecesse
com falsas mortes em vida,
sem seu quinhão de argúcia.
terça-feira, 9 de fevereiro de 2010
Notas Cotidianas e Literárias XI
CARNAVAL, SALINGER, RECLUSÃO E BACANAL
I
Se o escritor norte-americano J. D. Salinger tivesse vindo ao Brasil, mais especificamente a cidades como o Recife, Rio ou Salvador, talvez não pudesse fugir à loucura do carnaval. Mesmo que pensasse em se isolar em alguma praia ou cidade interiorana mais distanciada das metrópoles, haveria de sempre ouvir um eco qualquer de frevo, axé ou samba. Se ligasse a TV, não teria possibilidade de recusar-se a ver os flashes que invadem as casas do país durante a farra momesca, mostrando trios elétricos baianos, tremendas mulatas cariocas, passistas de frevo pernambucano, num colorido intenso e escancarado de fantasias, máscaras, bundas, sorrisos, bijuterias e cosméticos. Ligando uma das emissoras locais, não deixaria de apreciar bailes de elite de caráter tradicional e configuração filantrópica como o Bal masqué e o Municipal, ou escrachado feito o dos Artistas.
Poderia apreciar, em qualquer estação de rádio, frevos impagáveis de Capiba na voz de Claudionor Germano. E o norte-americano poderia concordar também com o sugerido por Mauro Mota para o significado lúdico geral e a compreensão nativista do frevo: “O frevo tem lucidez na loucura pela contribuição pessoal solicitada dos participantes. Assim dilata a sua coreografia. Nela os passistas atuam com tanta realidade que até parecem criaturas artificiais, de peças desmontáveis. Que ora se dobram e escondem pernas e pés, ora chutam para se verem livres de ossos incômodos.” E ficaria mais pasmo e perplexo, quando descobrisse o que disse Antônio Maria, numa crônica dos anos sessenta, com melancolia e saudade, do carnaval do Recife, que começava na noite de Natal: “Não se pode fazer ideia do que era o povo do Recife, solto nas ruas do Recife, após a declaração irreversível do Carnaval. Faziam parte da corte imperial mulheres morenas, que suavam, em bolinhas, na boca e no nariz. Mulheres de olhos ansiosos, presas de todos os atavismos de religião e de dor, a dançar a mais verdadeira de todas as danças – o frevo.”
Se tivesse privado da amizade de Carlos Pena Filho, outro apaixonado pelo carnaval, que compôs letras para Capiba musicar, quem sabe se não apreciaria a mais conhecida delas, “A mesma rosa amarela” (gravada por Maysa, Nelson Gonçalves, Vanja Orico e Tito Madi): “Você tem quase tudo dela,/ o mesmo perfume, a mesma cor,/ a mesma rosa amarela,/ só não tem o meu amor./ Mas nestes dias de carnaval/ para mim, você vai ser ela./ O mesmo perfume, a mesma cor,/ a mesma rosa amarela./ Mas não sei o que será/ quando chegar a lembrança dela/ e de você apenas restar/ a mesma rosa amarela,/ a mesma rosa amarela.”
Não seria fácil para Salinger saber que, como no poema “Segundo dia de carnaval”, de Alberto da Cunha Melo, não se pode morrer durante o carnaval, pois há uma recusa de silêncio dos alto-falantes e das gargalhadas, dos marujos bêbados e dos blocos que não dão trégua ao morto: “Passam blocos carnavalescos/ e mulheres cheias de tochas/ incendeiam homens molhados/ de álcool, ensopados de azul.// Quando alguém pede para o morto/ um só minuto de silêncio,/ o porta-estandarte responde/ que ele ‘tem silêncio demais’”. Ou constatar que outro poeta da geração 65, José |Mário Rodrigues, curte o carnaval com rasgos de folião juramentado, tirando do Recife e da avenida Guararapes toda a alegria que a cidade e a passarela principal dos desfiles pode franquear: “No carnaval eu me afogo/ No som quente dos metais/ Acordo minha bailarina,/ E adormeço meus punhais// No carnaval eu me abraço/ Com a cor de qualquer bandeira/ Depois volto aos meus pedaços/ (Mas isso é na quarta-feira...).
II
Mas Jerome David Salinger morreu há pouco, em 27 de janeiro deste ano, em sua casa em Cornish, no estado de New Hampshire. Foi o escritor mais recluso do século 20 dos Estados Unidos, e porque não dizer, do mundo. Famoso pelo seu livro “O apanhador no campo de centeio” (The catcher in the rye), de 1951, onde descarna a alienação, as aspirações, a irreverência e a rebeldia juvenil do segundo pós-guerra, escreveu numa linguagem que os jovens absorveram rapidamente, elegendo seu personagem Holden Caufield em ídolo.
Estranhamente e sem dar satisfações a ninguém, viveu recluso durante meio século. Depois de enricar com direitos autorais, e ao se indispor com as vicissitudes da fama, não quis mais saber de contato humano externo, a não ser a própria família, e ainda assim com restrições. Ele devia ter suas fortes razões para isso. Não escreveria jamais uma obra como a da estreia aos 32 anos (nasceu em Nova Iorque em 1919, no primeiro de janeiro). Não se sabe também o que ele deixou inédito. Em sua aversão a repórteres e fãs, e depois a qualquer tipo de gente que o procurasse, construiu uma barreira de muros altíssimos à bisbilhotice e à curiosidade. Mesmo assim, não pôde esquivar-se a escândalos e processos acionados por outras pessoas ou movidos por ele próprio.
III
A solidão de Salinger era diferente, por exemplo, da solidão de Manuel Bandeira. Se ambos procuravam o recolhimento para escrever, Bandeira, mesmo sendo um “ermitão”, participava da vida da cidade que escolheu para passar seus dias, o Rio de Janeiro. Escrevia para jornais, ia a lançamentos de livros, aceitava julgar concursos e prêmios de variada procedência e espécie, foi da Academia Brasileira de Letras, tinha muitos amigos (Vinícius, Drummond, Jaime Ovalle, Murilo Mendes, para citar apenas estes) que, apesar de certa rudeza do pernambucano, não dispensavam a sua companhia. Compôs um carnaval que tem mais de imaginário do que de vivido, em seu livro de 1919, Carnaval. Isto não significa, porém, que não tivesse participação direta nos carnavais de época, na condição de espectador privilegiado e que tinha um olhar mais aguçado que a maioria das pessoas comuns.
Um carnaval lírico e despojado, onde seriam permitidas todas as loucuras dos amores eventuais e descompromissados, do êxtase momentâneo e sem controle da carne em delírio. O poeta convoca Baco, Momo e Vênus para cantar e brincar na festa retratada no seu poema “Bacanal”, o primeiro do volume Carnaval. Os efeitos alcançados em estrofes com refrão de verso único, como um grito que se transmuta a cada chamamento da entidade mitológica, aparecem como desejos de liberação e desregramento das cadeias que cingem a alma e o corpo: “Quero beber! cantar asneiras/ No esto brutal das bebedeiras/ Que tudo emborca e faz em caco.../ Evoé Baco!// Lá se me parte a alma levada/ No torvelim da mascarada,/ A gargalhar em doudo assomo.../ Evoé Momo!// Lacem-na toda, multicores,/ As serpentinas dos amores,/ Cobras de lívidos venenos.../ Evoé Vênus!”.
O desejo inalcançado confunde, assim, o vivido e o impalpável, o que se observa à distância e o que é sentido e provado. Esta ambiguidade se manifesta com irreverência e grande compulsão para anular, pelo menos durante o surto carnavalesco, um cotidiano que se faz opressor pela necessidade de atendimento a obrigações e injunções imediatas e às vezes indesejadas. Por isso, poderá arrematar sincera e incisivamente, se perguntado: “Se perguntarem: Que mais queres,/ Além de versos e mulheres?.../ – Vinhos!... o vinho que é o meu fraco!.../ Evoé Baco!// O alfange rútilo da lua,/ Por degolar a nuca nua/ Que me alucina e que eu não domo!.../ Evoé Momo!// A lira etérea, a grande Lira!.../ Por que eu extático desfira/ em seu louvor versos obscenos,/ Evoé Vênus!”.
Em versos que expõem resquícios perceptíveis de certa dicção lusitana, o poeta junta-se à multidão alucinada e esquece temporariamente a tristeza, a falsidade e a hipocrisia de uma sociedade que se debate paradoxalmente entre o permissivo e o permitido, com focos ancestrais de conservadorismo e claros mas ainda incipientes sinais de avanço.
UM CONTO DE CARNAVAL DE MAXIMIANO CAMPOS
1) Maximiano Campos, que pertenceu ao Clube Vassourinhas e à Federação Carnavalesca de Pernambuco, tinha viva em sua escrita e criação a festa de frevo e desgarramento. Em parceria com o político, empresário e boêmio Arthur Lima Cavalcanti, fez a letra da música “Serpentina partida”:
Esse amor de carnaval
Durou uma canção
Foi uma serpentina partida
Que você jogou no salão
A vida também é fantasia
Para todo sim existe um não
Hoje você joga serpentina
Amanhã vai jogar seu coração
Você vestida de alegria
E eu na tristeza do salão
Ainda vai chegar o dia
Em que vou reinar no seu cordão.
A composição fala de um “fora” que se pode levar pela ousadia de admirar e cantar a mulher próxima, que rápido se transmuta em desconhecida. Um sorriso insosso e enganoso se sobrepõe, às vezes, por cima do gelo e da indiferença. Em outras ocasiões camufla e retém intenções inimagináveis, talvez por uma propalada sutilidade que seria próprio não só das mulheres, mas dos homens também. Conforme prenunciam os autores do frevo-canção, a musa do carnaval poderá, um dia, ter quebrado o orgulho de ser “bela, sim senhor”. Sem precisar assumir nenhuma culpa por isso. Prevalece um jeito simples de dizer, na canção, apenas aquilo que deve ser dito no reino da esperança que o carnaval e as bailarinas a todo vapor facilitam. Tudo isto se dá ao som do frevo, que não deixa ninguém parado, e ao sabor circulante das conversas, suores e abraços. Mais ainda, ao calor infernal e desabrido dos cigarros, do lança-perfume e do álcool.
2) Em “O rei, o cangaceiro e o astronauta”, Maximiano Campos narra o encontro de três foliões num bar recifense, durante o carnaval. A origem e o papel provisório dos personagens deste conto remetem a fantasias permitidas apenas pela loucura do carnaval, em que cada um se veste e traveste do jeito que mais gostaria de ser o tempo todo. São personagens surreais e fantásticos o rei negro e mecânico de profissão, o cangaceiro alfaiate e descendente legítimo de sertanejos, e o astronauta pequeno-burguês bêbado e brigão, cujo pai era dono da fábrica onde o rei trabalhava. A conversa segue amena e solta entre o rei e o cangaceiro, até que, bruscamente, aporta na mesa o astronauta. Mesmo as provocações e a discussão mais dura, turbinadas pela bebida, terminam cedendo espaço à vontade de brincar o carnaval. É sintomática a escolha do astronauta, que traduz a novidade maior do final dos anos sessenta, a chegada do homem à lua. O cangaceiro sugere a épica guerreira nordestina, os feitos de valentia e destemor. Quando se pensa nos numerosos homicídios, atrocidades, saques e estupros cometidos, a compensação se processa como ato de heroísmo nas lutas que culminavam no enfrentamento cego e suicida do poder político-econômico, bélico e rural inicialmente, para depois incomodar diretamente os governos presidenciais das décadas iniciais do século 20. “O rei, o cangaceiro e o astronauta” constava da única edição do livro As emboscadas da sorte (1971). O conto foi posteriormente publicado na coletânea O viajante e o horizonte (1997). Em 2004 saiu, em São Paulo, nova coletânea, com o título de um dos contos mais conhecidos de Maximiano, Na estrada, acrescida de material inédito em livro. Confira-se a versão integral do texto, que não sofreu alteração significativa em nenhuma das edições citadas:
“O rei e o cangaceiro conversavam e bebiam. O rei retirou a coroa cheia de pedras de todas as cores e colocou-a em cima do tampo da mesa. O cangaceiro continuou com o seu chapéu no qual havia três signos de Salomão e uma estrela, fincados na aba.
– Já conversamos um bocado, mas seu nome... – Como é o seu nome? – perguntou o rei.
– Jesuíno Brilhante.
– Mas eu quero saber o seu nome verdadeiro.
– É Jesuíno Brilhante.
– Mas esse não foi o nome de um cangaceiro que já morreu há muito tempo?
– É, morreu. Mas o meu nome é Jesuíno Brilhante.
– Você quer brincar com o rei?
– Não, majestade. O meu nome é esse mesmo.
O rei passou a mão no rosto gordo, depois levou um copo de bebida até a boca e engoliu de uma vez só. Ouviram vozes que vinham da rua, formando uma grande algazarra.
– O povo está se distraindo. Mas, voltando ao assunto do seu nome, você não vai querer me dizer que é o fantasma do outro, de Jesuíno Brilhante.
– Não, não sou nenhum fantasma. Tenho esse nome porque meu pai era sertanejo e admirava muito a vida de Jesuino Brilhante, falava sempre nas façanhas dele. Por isso, chamo-me Jesuíno Brilhante da Silva.
– Ah! Você não tinha falado nesse da Silva...
– É, não tinha falado. Jesuíno, o outro, era Alencar.
Estavam bebendo em silêncio, quando viram entrar um astronauta no recinto. Parecia ser um velho conhecido do rei. Saudou-o e pediu licença para se sentar à mesa. O rei deu permissão, admirado, parecendo contente de vê-lo ali. O astronauta, um rapaz louro e de olhos azuis, tirou o capacete para ficar mais à vontade e aceitou o copo de bebida que o rei lhe oferecia.
– Que tal a lua? – perguntou o cangaceiro.
– Ah! me esqueci de apresentar você – disse o rei, voltando-se para o astronauta. – Este aqui é Jesuíno Brilhante.
– Prazer! – disse o astronauta, sem mencionar o seu nome.
– Mas a lua, rapaz, que tal? – perguntou, dessa vez, o rei.
O astronauta riu. Parecia já estar bêbado, porque a sua voz estava meio empastada. Respondeu:
– Não tem mulheres, nem água, nem bebida, é uma desolação.
– Isso é ruim – falou o rei.
– E o seu Sertão? – indagou o astronauta ao cangaceiro.
– O meu Sertão é um reino muito grande. Há muitos anos saí de lá, era muito menino. Mas me lembro de quase tudo que vi. Agora ando desgarrado.
– Quer dizer que você nunca matou ninguém? – perguntou, rindo, o rei.
– Vamos deixar essa conversa de lado. Acho melhor o senhor contar a sua vida, falar do seu reino.
– Pouca coisa tenho a contar.
– É modéstia! – disse o astronauta, esvaziando o conteúdo da garrafa e enchendo o seu copo, que emborcou de vez, bebendo tudo de um só fôlego.
– Como foi que o senhor veio parar aqui? – indagou novamente o cangaceiro ao rei.
– Deixe pra lá! – respondeu o rei fazendo um gesto com a mão.
O astronauta, já empilecado, começou a dizer inconveniências com uma princesa que estava sentada a uma mesa ao lado. O rei reclamou, pediu ao astronauta que não dissesse mais aqueles palavrões, que respeitasse a sua presença e o ambiente.
– Você sempre foi um velho safado mesmo! – disse o astronauta levantando-se para se retirar da mesa.
Ia saindo, quando voltou e disse para o cangaceiro:
– Você tem cara de pastora e não de cangaceiro!
– Vá embora, deixe a gente beber em paz – falou o rei, tentando acalmar a situação.
O astronauta deu uma tapa no chapéu do cangaceiro e o chapéu caiu no chão. O cangaceiro, embora com raiva, ponderou:
– Isso não é brincadeira, nem conheço você direito! – E, voltando-se para o rei: – Como é que o senhor foi chamar um sujeito mal-educado desse para beber na nossa mesa?
– Você viu, ele perguntou se podia se sentar! Além do mais, não sabia que ele estava tão bêbado assim!
– Bêbado é a mãe! – falou o astronauta, cambaleando e segurando-se numa cadeira para não cair.
O cangaceiro levantou-se e disse, já afobado com as provocações:
– Agora você vai embora de todo o jeito!
O astronauta tentou reagir, mas o cangaceiro deu-lhe uma bofetada, depois um pontapé e, agarrando-o pela gola, sacudiu-o na rua.
O rei, aflito, correu para o cangaceiro, indagando:
– Por que você foi fazer isso?
– Ele ofendeu o senhor! Quis evitar que ele lhe causasse maiores problemas.
– Problemas foi o que você me arranjou agora!
– E o rei, dizendo isso, foi até a calçada e levantou o rapaz, trazendo-o de volta à mesa.
O astronauta, de tão bêbado, havia entrado naquela fase em que se fica meio adormecido pelo efeito do álcool. Caiu da cadeira em que o rei o havia colocado e estendeu-se no chão.
– Deixe esse cabra afoito! Esse camarada precisava levar umas tapas!
O rei, meio preocupado, perguntou:
– Será que as pancadas, os murros, fizeram mal a ele?
– Que nada... Não bati com força. Levou só umas tapinhas. Isso de ele estar no chão é porque bebeu demais. Mas por que o senhor disse que isso lhe traria problemas?
– É porque esse rapaz é filho do dono da fábrica onde trabalho.
– Desculpe, eu não sabia.
– É, mas não há de ser nada! Vamos embora. Hoje é o último dia de carnaval e amanhã vou ter que trocar essa roupa por um macacão sujo de graxa. Você trabalha em quê? – perguntou o negro alto e vestido de rei.
– Sou alfaiate.
– Foi você quem fez essa sua roupa?
– Foi.
– Para fazer minha fantasia, tive que economizar muito – disse o rei e, levantando-se, chamou o garçom que, impassível, assistira à conversa e à briga do cangaceiro com o astronauta. O rei pediu a conta. Dividiram as despesas. A princesa, debruçada sobre a outra mesa, parecia estar dormindo. Junto da sua cabeça estavam um lança-perfume e uma e uma garrafa de bebida vazia.
– Vamos embora! – disse o cangaceiro. – Mas, e esse cara aí, deitado? Quer ver se conseguimos levantar ele?
– Que se dane! O meu reino só dura três dias, e o do pai dele dura o ano inteiro.
– Que será que ele veio fazer aqui? Devia estar brincando num clube grã-fino.
– Acho que ele estava fazendo o corso com os amigos, deve ter entrado aqui para beber. Daqui a pouco os amigos devem achar ele.
– E se ele contar tudo ao pai?
– Sou despedido. Mas não quero pensar nisso agora.
Saíram para a rua. A porta-estandarte do Vassourinhas ia passando na avenida, marcando o compasso da marcha entre os confetes e as serpentinas que havia no asfalto. O rei e o cangaceiro caíram no passo. No bar, estavam a coroa, que o rei havia esquecido em cima da mesa, e o chapéu do cangaceiro, caído no assoalho entre pedaços de serpentina. A princesa pareceu despertar e levantou a cabeça do tampo de fórmica da mesa. Olhou para o astronauta estendido no chão. Depois, voltou a adormecer para sonhar com outros carnavais”.
PARACHOQUES
No carnaval ninguém pode impedir que a poesia
se irradie das cabeças, corpos e pés em folia.
POEMA DE CARNAVAL
Polichinelos azuis
borboletas de prata
serpentinas, confetes
despenteados cabelos
saracoteio nas ruas:
no frevo rasgado
avança a folia
dobrando as esquinas
de assalto nas praças
velozmente nas ruas:
expelindo os suores
excitando os humores
explodindo em rumores
que agora só vê-se
o povo nas ruas!
I
Se o escritor norte-americano J. D. Salinger tivesse vindo ao Brasil, mais especificamente a cidades como o Recife, Rio ou Salvador, talvez não pudesse fugir à loucura do carnaval. Mesmo que pensasse em se isolar em alguma praia ou cidade interiorana mais distanciada das metrópoles, haveria de sempre ouvir um eco qualquer de frevo, axé ou samba. Se ligasse a TV, não teria possibilidade de recusar-se a ver os flashes que invadem as casas do país durante a farra momesca, mostrando trios elétricos baianos, tremendas mulatas cariocas, passistas de frevo pernambucano, num colorido intenso e escancarado de fantasias, máscaras, bundas, sorrisos, bijuterias e cosméticos. Ligando uma das emissoras locais, não deixaria de apreciar bailes de elite de caráter tradicional e configuração filantrópica como o Bal masqué e o Municipal, ou escrachado feito o dos Artistas.
Poderia apreciar, em qualquer estação de rádio, frevos impagáveis de Capiba na voz de Claudionor Germano. E o norte-americano poderia concordar também com o sugerido por Mauro Mota para o significado lúdico geral e a compreensão nativista do frevo: “O frevo tem lucidez na loucura pela contribuição pessoal solicitada dos participantes. Assim dilata a sua coreografia. Nela os passistas atuam com tanta realidade que até parecem criaturas artificiais, de peças desmontáveis. Que ora se dobram e escondem pernas e pés, ora chutam para se verem livres de ossos incômodos.” E ficaria mais pasmo e perplexo, quando descobrisse o que disse Antônio Maria, numa crônica dos anos sessenta, com melancolia e saudade, do carnaval do Recife, que começava na noite de Natal: “Não se pode fazer ideia do que era o povo do Recife, solto nas ruas do Recife, após a declaração irreversível do Carnaval. Faziam parte da corte imperial mulheres morenas, que suavam, em bolinhas, na boca e no nariz. Mulheres de olhos ansiosos, presas de todos os atavismos de religião e de dor, a dançar a mais verdadeira de todas as danças – o frevo.”
Se tivesse privado da amizade de Carlos Pena Filho, outro apaixonado pelo carnaval, que compôs letras para Capiba musicar, quem sabe se não apreciaria a mais conhecida delas, “A mesma rosa amarela” (gravada por Maysa, Nelson Gonçalves, Vanja Orico e Tito Madi): “Você tem quase tudo dela,/ o mesmo perfume, a mesma cor,/ a mesma rosa amarela,/ só não tem o meu amor./ Mas nestes dias de carnaval/ para mim, você vai ser ela./ O mesmo perfume, a mesma cor,/ a mesma rosa amarela./ Mas não sei o que será/ quando chegar a lembrança dela/ e de você apenas restar/ a mesma rosa amarela,/ a mesma rosa amarela.”
Não seria fácil para Salinger saber que, como no poema “Segundo dia de carnaval”, de Alberto da Cunha Melo, não se pode morrer durante o carnaval, pois há uma recusa de silêncio dos alto-falantes e das gargalhadas, dos marujos bêbados e dos blocos que não dão trégua ao morto: “Passam blocos carnavalescos/ e mulheres cheias de tochas/ incendeiam homens molhados/ de álcool, ensopados de azul.// Quando alguém pede para o morto/ um só minuto de silêncio,/ o porta-estandarte responde/ que ele ‘tem silêncio demais’”. Ou constatar que outro poeta da geração 65, José |Mário Rodrigues, curte o carnaval com rasgos de folião juramentado, tirando do Recife e da avenida Guararapes toda a alegria que a cidade e a passarela principal dos desfiles pode franquear: “No carnaval eu me afogo/ No som quente dos metais/ Acordo minha bailarina,/ E adormeço meus punhais// No carnaval eu me abraço/ Com a cor de qualquer bandeira/ Depois volto aos meus pedaços/ (Mas isso é na quarta-feira...).
II
Mas Jerome David Salinger morreu há pouco, em 27 de janeiro deste ano, em sua casa em Cornish, no estado de New Hampshire. Foi o escritor mais recluso do século 20 dos Estados Unidos, e porque não dizer, do mundo. Famoso pelo seu livro “O apanhador no campo de centeio” (The catcher in the rye), de 1951, onde descarna a alienação, as aspirações, a irreverência e a rebeldia juvenil do segundo pós-guerra, escreveu numa linguagem que os jovens absorveram rapidamente, elegendo seu personagem Holden Caufield em ídolo.
Estranhamente e sem dar satisfações a ninguém, viveu recluso durante meio século. Depois de enricar com direitos autorais, e ao se indispor com as vicissitudes da fama, não quis mais saber de contato humano externo, a não ser a própria família, e ainda assim com restrições. Ele devia ter suas fortes razões para isso. Não escreveria jamais uma obra como a da estreia aos 32 anos (nasceu em Nova Iorque em 1919, no primeiro de janeiro). Não se sabe também o que ele deixou inédito. Em sua aversão a repórteres e fãs, e depois a qualquer tipo de gente que o procurasse, construiu uma barreira de muros altíssimos à bisbilhotice e à curiosidade. Mesmo assim, não pôde esquivar-se a escândalos e processos acionados por outras pessoas ou movidos por ele próprio.
III
A solidão de Salinger era diferente, por exemplo, da solidão de Manuel Bandeira. Se ambos procuravam o recolhimento para escrever, Bandeira, mesmo sendo um “ermitão”, participava da vida da cidade que escolheu para passar seus dias, o Rio de Janeiro. Escrevia para jornais, ia a lançamentos de livros, aceitava julgar concursos e prêmios de variada procedência e espécie, foi da Academia Brasileira de Letras, tinha muitos amigos (Vinícius, Drummond, Jaime Ovalle, Murilo Mendes, para citar apenas estes) que, apesar de certa rudeza do pernambucano, não dispensavam a sua companhia. Compôs um carnaval que tem mais de imaginário do que de vivido, em seu livro de 1919, Carnaval. Isto não significa, porém, que não tivesse participação direta nos carnavais de época, na condição de espectador privilegiado e que tinha um olhar mais aguçado que a maioria das pessoas comuns.
Um carnaval lírico e despojado, onde seriam permitidas todas as loucuras dos amores eventuais e descompromissados, do êxtase momentâneo e sem controle da carne em delírio. O poeta convoca Baco, Momo e Vênus para cantar e brincar na festa retratada no seu poema “Bacanal”, o primeiro do volume Carnaval. Os efeitos alcançados em estrofes com refrão de verso único, como um grito que se transmuta a cada chamamento da entidade mitológica, aparecem como desejos de liberação e desregramento das cadeias que cingem a alma e o corpo: “Quero beber! cantar asneiras/ No esto brutal das bebedeiras/ Que tudo emborca e faz em caco.../ Evoé Baco!// Lá se me parte a alma levada/ No torvelim da mascarada,/ A gargalhar em doudo assomo.../ Evoé Momo!// Lacem-na toda, multicores,/ As serpentinas dos amores,/ Cobras de lívidos venenos.../ Evoé Vênus!”.
O desejo inalcançado confunde, assim, o vivido e o impalpável, o que se observa à distância e o que é sentido e provado. Esta ambiguidade se manifesta com irreverência e grande compulsão para anular, pelo menos durante o surto carnavalesco, um cotidiano que se faz opressor pela necessidade de atendimento a obrigações e injunções imediatas e às vezes indesejadas. Por isso, poderá arrematar sincera e incisivamente, se perguntado: “Se perguntarem: Que mais queres,/ Além de versos e mulheres?.../ – Vinhos!... o vinho que é o meu fraco!.../ Evoé Baco!// O alfange rútilo da lua,/ Por degolar a nuca nua/ Que me alucina e que eu não domo!.../ Evoé Momo!// A lira etérea, a grande Lira!.../ Por que eu extático desfira/ em seu louvor versos obscenos,/ Evoé Vênus!”.
Em versos que expõem resquícios perceptíveis de certa dicção lusitana, o poeta junta-se à multidão alucinada e esquece temporariamente a tristeza, a falsidade e a hipocrisia de uma sociedade que se debate paradoxalmente entre o permissivo e o permitido, com focos ancestrais de conservadorismo e claros mas ainda incipientes sinais de avanço.
UM CONTO DE CARNAVAL DE MAXIMIANO CAMPOS
1) Maximiano Campos, que pertenceu ao Clube Vassourinhas e à Federação Carnavalesca de Pernambuco, tinha viva em sua escrita e criação a festa de frevo e desgarramento. Em parceria com o político, empresário e boêmio Arthur Lima Cavalcanti, fez a letra da música “Serpentina partida”:
Esse amor de carnaval
Durou uma canção
Foi uma serpentina partida
Que você jogou no salão
A vida também é fantasia
Para todo sim existe um não
Hoje você joga serpentina
Amanhã vai jogar seu coração
Você vestida de alegria
E eu na tristeza do salão
Ainda vai chegar o dia
Em que vou reinar no seu cordão.
A composição fala de um “fora” que se pode levar pela ousadia de admirar e cantar a mulher próxima, que rápido se transmuta em desconhecida. Um sorriso insosso e enganoso se sobrepõe, às vezes, por cima do gelo e da indiferença. Em outras ocasiões camufla e retém intenções inimagináveis, talvez por uma propalada sutilidade que seria próprio não só das mulheres, mas dos homens também. Conforme prenunciam os autores do frevo-canção, a musa do carnaval poderá, um dia, ter quebrado o orgulho de ser “bela, sim senhor”. Sem precisar assumir nenhuma culpa por isso. Prevalece um jeito simples de dizer, na canção, apenas aquilo que deve ser dito no reino da esperança que o carnaval e as bailarinas a todo vapor facilitam. Tudo isto se dá ao som do frevo, que não deixa ninguém parado, e ao sabor circulante das conversas, suores e abraços. Mais ainda, ao calor infernal e desabrido dos cigarros, do lança-perfume e do álcool.
2) Em “O rei, o cangaceiro e o astronauta”, Maximiano Campos narra o encontro de três foliões num bar recifense, durante o carnaval. A origem e o papel provisório dos personagens deste conto remetem a fantasias permitidas apenas pela loucura do carnaval, em que cada um se veste e traveste do jeito que mais gostaria de ser o tempo todo. São personagens surreais e fantásticos o rei negro e mecânico de profissão, o cangaceiro alfaiate e descendente legítimo de sertanejos, e o astronauta pequeno-burguês bêbado e brigão, cujo pai era dono da fábrica onde o rei trabalhava. A conversa segue amena e solta entre o rei e o cangaceiro, até que, bruscamente, aporta na mesa o astronauta. Mesmo as provocações e a discussão mais dura, turbinadas pela bebida, terminam cedendo espaço à vontade de brincar o carnaval. É sintomática a escolha do astronauta, que traduz a novidade maior do final dos anos sessenta, a chegada do homem à lua. O cangaceiro sugere a épica guerreira nordestina, os feitos de valentia e destemor. Quando se pensa nos numerosos homicídios, atrocidades, saques e estupros cometidos, a compensação se processa como ato de heroísmo nas lutas que culminavam no enfrentamento cego e suicida do poder político-econômico, bélico e rural inicialmente, para depois incomodar diretamente os governos presidenciais das décadas iniciais do século 20. “O rei, o cangaceiro e o astronauta” constava da única edição do livro As emboscadas da sorte (1971). O conto foi posteriormente publicado na coletânea O viajante e o horizonte (1997). Em 2004 saiu, em São Paulo, nova coletânea, com o título de um dos contos mais conhecidos de Maximiano, Na estrada, acrescida de material inédito em livro. Confira-se a versão integral do texto, que não sofreu alteração significativa em nenhuma das edições citadas:
“O rei e o cangaceiro conversavam e bebiam. O rei retirou a coroa cheia de pedras de todas as cores e colocou-a em cima do tampo da mesa. O cangaceiro continuou com o seu chapéu no qual havia três signos de Salomão e uma estrela, fincados na aba.
– Já conversamos um bocado, mas seu nome... – Como é o seu nome? – perguntou o rei.
– Jesuíno Brilhante.
– Mas eu quero saber o seu nome verdadeiro.
– É Jesuíno Brilhante.
– Mas esse não foi o nome de um cangaceiro que já morreu há muito tempo?
– É, morreu. Mas o meu nome é Jesuíno Brilhante.
– Você quer brincar com o rei?
– Não, majestade. O meu nome é esse mesmo.
O rei passou a mão no rosto gordo, depois levou um copo de bebida até a boca e engoliu de uma vez só. Ouviram vozes que vinham da rua, formando uma grande algazarra.
– O povo está se distraindo. Mas, voltando ao assunto do seu nome, você não vai querer me dizer que é o fantasma do outro, de Jesuíno Brilhante.
– Não, não sou nenhum fantasma. Tenho esse nome porque meu pai era sertanejo e admirava muito a vida de Jesuino Brilhante, falava sempre nas façanhas dele. Por isso, chamo-me Jesuíno Brilhante da Silva.
– Ah! Você não tinha falado nesse da Silva...
– É, não tinha falado. Jesuíno, o outro, era Alencar.
Estavam bebendo em silêncio, quando viram entrar um astronauta no recinto. Parecia ser um velho conhecido do rei. Saudou-o e pediu licença para se sentar à mesa. O rei deu permissão, admirado, parecendo contente de vê-lo ali. O astronauta, um rapaz louro e de olhos azuis, tirou o capacete para ficar mais à vontade e aceitou o copo de bebida que o rei lhe oferecia.
– Que tal a lua? – perguntou o cangaceiro.
– Ah! me esqueci de apresentar você – disse o rei, voltando-se para o astronauta. – Este aqui é Jesuíno Brilhante.
– Prazer! – disse o astronauta, sem mencionar o seu nome.
– Mas a lua, rapaz, que tal? – perguntou, dessa vez, o rei.
O astronauta riu. Parecia já estar bêbado, porque a sua voz estava meio empastada. Respondeu:
– Não tem mulheres, nem água, nem bebida, é uma desolação.
– Isso é ruim – falou o rei.
– E o seu Sertão? – indagou o astronauta ao cangaceiro.
– O meu Sertão é um reino muito grande. Há muitos anos saí de lá, era muito menino. Mas me lembro de quase tudo que vi. Agora ando desgarrado.
– Quer dizer que você nunca matou ninguém? – perguntou, rindo, o rei.
– Vamos deixar essa conversa de lado. Acho melhor o senhor contar a sua vida, falar do seu reino.
– Pouca coisa tenho a contar.
– É modéstia! – disse o astronauta, esvaziando o conteúdo da garrafa e enchendo o seu copo, que emborcou de vez, bebendo tudo de um só fôlego.
– Como foi que o senhor veio parar aqui? – indagou novamente o cangaceiro ao rei.
– Deixe pra lá! – respondeu o rei fazendo um gesto com a mão.
O astronauta, já empilecado, começou a dizer inconveniências com uma princesa que estava sentada a uma mesa ao lado. O rei reclamou, pediu ao astronauta que não dissesse mais aqueles palavrões, que respeitasse a sua presença e o ambiente.
– Você sempre foi um velho safado mesmo! – disse o astronauta levantando-se para se retirar da mesa.
Ia saindo, quando voltou e disse para o cangaceiro:
– Você tem cara de pastora e não de cangaceiro!
– Vá embora, deixe a gente beber em paz – falou o rei, tentando acalmar a situação.
O astronauta deu uma tapa no chapéu do cangaceiro e o chapéu caiu no chão. O cangaceiro, embora com raiva, ponderou:
– Isso não é brincadeira, nem conheço você direito! – E, voltando-se para o rei: – Como é que o senhor foi chamar um sujeito mal-educado desse para beber na nossa mesa?
– Você viu, ele perguntou se podia se sentar! Além do mais, não sabia que ele estava tão bêbado assim!
– Bêbado é a mãe! – falou o astronauta, cambaleando e segurando-se numa cadeira para não cair.
O cangaceiro levantou-se e disse, já afobado com as provocações:
– Agora você vai embora de todo o jeito!
O astronauta tentou reagir, mas o cangaceiro deu-lhe uma bofetada, depois um pontapé e, agarrando-o pela gola, sacudiu-o na rua.
O rei, aflito, correu para o cangaceiro, indagando:
– Por que você foi fazer isso?
– Ele ofendeu o senhor! Quis evitar que ele lhe causasse maiores problemas.
– Problemas foi o que você me arranjou agora!
– E o rei, dizendo isso, foi até a calçada e levantou o rapaz, trazendo-o de volta à mesa.
O astronauta, de tão bêbado, havia entrado naquela fase em que se fica meio adormecido pelo efeito do álcool. Caiu da cadeira em que o rei o havia colocado e estendeu-se no chão.
– Deixe esse cabra afoito! Esse camarada precisava levar umas tapas!
O rei, meio preocupado, perguntou:
– Será que as pancadas, os murros, fizeram mal a ele?
– Que nada... Não bati com força. Levou só umas tapinhas. Isso de ele estar no chão é porque bebeu demais. Mas por que o senhor disse que isso lhe traria problemas?
– É porque esse rapaz é filho do dono da fábrica onde trabalho.
– Desculpe, eu não sabia.
– É, mas não há de ser nada! Vamos embora. Hoje é o último dia de carnaval e amanhã vou ter que trocar essa roupa por um macacão sujo de graxa. Você trabalha em quê? – perguntou o negro alto e vestido de rei.
– Sou alfaiate.
– Foi você quem fez essa sua roupa?
– Foi.
– Para fazer minha fantasia, tive que economizar muito – disse o rei e, levantando-se, chamou o garçom que, impassível, assistira à conversa e à briga do cangaceiro com o astronauta. O rei pediu a conta. Dividiram as despesas. A princesa, debruçada sobre a outra mesa, parecia estar dormindo. Junto da sua cabeça estavam um lança-perfume e uma e uma garrafa de bebida vazia.
– Vamos embora! – disse o cangaceiro. – Mas, e esse cara aí, deitado? Quer ver se conseguimos levantar ele?
– Que se dane! O meu reino só dura três dias, e o do pai dele dura o ano inteiro.
– Que será que ele veio fazer aqui? Devia estar brincando num clube grã-fino.
– Acho que ele estava fazendo o corso com os amigos, deve ter entrado aqui para beber. Daqui a pouco os amigos devem achar ele.
– E se ele contar tudo ao pai?
– Sou despedido. Mas não quero pensar nisso agora.
Saíram para a rua. A porta-estandarte do Vassourinhas ia passando na avenida, marcando o compasso da marcha entre os confetes e as serpentinas que havia no asfalto. O rei e o cangaceiro caíram no passo. No bar, estavam a coroa, que o rei havia esquecido em cima da mesa, e o chapéu do cangaceiro, caído no assoalho entre pedaços de serpentina. A princesa pareceu despertar e levantou a cabeça do tampo de fórmica da mesa. Olhou para o astronauta estendido no chão. Depois, voltou a adormecer para sonhar com outros carnavais”.
PARACHOQUES
No carnaval ninguém pode impedir que a poesia
se irradie das cabeças, corpos e pés em folia.
POEMA DE CARNAVAL
Polichinelos azuis
borboletas de prata
serpentinas, confetes
despenteados cabelos
saracoteio nas ruas:
no frevo rasgado
avança a folia
dobrando as esquinas
de assalto nas praças
velozmente nas ruas:
expelindo os suores
excitando os humores
explodindo em rumores
que agora só vê-se
o povo nas ruas!
terça-feira, 2 de fevereiro de 2010
Notas Cotidianas e Literárias X
MÃE & FILHA
De passagem por Olinda decido ir à procura de alguém que conheço. Chego ao bairro. Localizo a rua e a casa. Chamo. Moram apenas as duas. Mãe e filha. A mãe aparece. Mesmo me reconhecendo não se altera. Não me convida a entrar e nem alimenta nenhuma conversa. Diz apenas que Ela não está. E retira-se para dentro ruminando seus velhos severos cabelos de prata. Antes fecha a porta. Os olhos frios duríssimos por trás dos óculos dourados.
Vi que a antiga árvore da entrada do jardim da casa definhara bastante. Raízes e galhos implodindo cansada. Não havia rastro dos pneus do carro. Insisto. Mas eu preciso saber onde Ela está. A mãe rebate. Agora eu só sei que aqui Ela não está. Taxativa. Volte outro dia. Digo que não posso vir outro dia. Bate novamente a porta na minha cara. Mais três pancadinhas e falo com Ela. Três pancadinhas de nada. Três pancadinhas assim. Desisto. Seguirei o conselho da velha.
Outro dia eu volto. Um tempo que usarei para lembrar e relembrar. Noites que se sucediam rapidamente até o núcleo de vivências inesperadas de muito pique e festa. Horas encruzadas de contatos com aspirantes a artistas e artistas consolidados. Artistas da vida que se equilibravam com a força da ginga e do verbo. Sucesso garantido com as mulheres malucas desinibidas. Bailarinas poetas atores cantoras músicos pintoras. Gente diversa que compunha o espetáculo repetido de bares alternativos e próprios para turista ver e desfrutar. Barraquinhas de queijo assado e tapioca. Abraxas. Cantinho da Sé. Praça do Carmo. Ladeira de São Francisco.
A loucura de aparência espectral de uns contraposta à lucidez falseada de outros. Alguns mergulhados e embalados no ritmo de cigarros ainda proibidos para consumo geral e somente por lá encontrados. Bolinhas de guaraná e fartura de alcaloides . Sempre guardando qualquer ressonância com um passado tão próximo quanto o presente que se estava a fazer. Todos com sede radical de vida. Boêmios que abraçavam a noite pela noite. Sem trocar a conversa bem-humorada e sem compromisso pela destilaria de saberes acumulados. Na noite cerceada e sem saída inventava-se uma outra noite só ocorrente na claridão de luzes clandestinas.
Amanhece e é preciso retornar ao provisório de um quarto. Transitar pela cidade ainda sonolenta. Resolvo que vou ao duplex das duas para ver se Ela também já voltou da surpresa viageira e errante. Busco sem hesitar pela velha ao basculante da porta. Nenhum sinal humano ali. Estava morta na volta. Não sei o motivo. Velhice talvez. Antes tentava dormir não dormia. Agora dorme sem tentar nem desejar. Dormirá indefinidamente. Não há dúvida de que Ela não voltou. Não pude mais procurá-la.
UM POEMA DE GERUSA LEAL
Em Versilêncios (2008), Gerusa Leal pratica uma escrita delicada e sem alarde, mas também sem resignação nem aceitação cega do que a rodeia. Vive e exprime situações cotidianas em sua inteireza ou parcialidade. Questiona os atos simples da vida para melhor compreendê-los. Interage com o ambiente exterior através da poesia que enfoca ângulos diferenciados de visada na percepção de seres e objetos, na fatura que passa a limpo como espetáculos do mundo um vaso de flores, uma laje de prédio, uma vizinha próxima e ao mesmo tempo distanciada. E isto se verifica tanto naqueles dias em que nada dá certo e é preciso esperar pelos instantes seguintes em que porventura o mundo e as idéias retornem ao seu imprevisível lugar. Não intenta estabelecer, nos seus poemas, nenhum ciclo novidadeiro ou fluxo inventivo impossível de ser conseguido por agora. É um fato que, na atualidade, escasseiam materiais concernentes e renovados para isso, no caos de uma grande produção que vem permeando a poesia ao longo dos séculos. Sem se abater, ela trabalha com afinco os materiais líricos que se mostram à mão. Por isso, dirá no poema “Escrevedor”:
não escrevo o que não sinto
amadora que sou
sinto o que não escrevo
jeito de driblar a dor
escrevo o que não sinto
salvo a vida
não sinto o que não escrevo
nem percebo que vivi
O poema não partilha ilusões, falseadas às vezes, ou assimiladas cotidianamente pela sina do ser poeta. Vislumbra a condição e o fingimento pessoano, que anula a dor suposta e a real, e, por uma ironia suprema e incisiva, passa a reafirmar sensivelmente o amor. Assim, no estrato secular e fragmentário das formas e sentidos, Gerusa Leal procura descartar discretamente a “dor”. Elege a “vida” antes da escrita do que não se sente. E assume o silêncio do não escrever que não se amplie em vida, que não renda homenagem ao milagre de se estar vivo.
PARACHOQUES
Há frios cubos, metais de lodo, flores de cinza
na Catedral. Na República agonizam os ventos.
COTIDIANAS
É flagrante o avanço qualitativo sinalizado na cota de espaço demarcado e na dosagem de liberdade conquistada pelas mulheres na sociedade atual. Elas se fazem presentes e com força em todos os setores e campos da vida, do lazer e do trabalho. Na política ou na direção de uma empresa, na engenharia e nas artes. Na luta social e nos meandros da justiça, na publicidade e na literatura, na internet e nos órgãos de imprensa. Executiva e professora. Atriz pornô e modelo de luxo. Glamorosa ou desleixada, sem jamais perder de vista o que nela se manifesta em vaidade feminina. Sensualidade à flor dos poros da pele, que busca muito mais do que a mera condição assexuada, sem se arranhar nas veredas escolhidas e adotadas. Rigidez e frieza no comando e na defesa de organizações de procedência variada, da ultra-secreta à pública e oficial.
Todas reivindicam e merecem o devido respeito, não importando a atividade assumida. Mesmo aquelas que atuam na sombra e na bandidagem podem um dia se regenerar. Ou irão encontrar no seu caminho apenas prisão, violência e morte. A mulher não declina o seu instinto maternal por circunstância de tarefas que exijam o máximo de sua fibra e resistência. Algumas delas precisam disto para o embate com o chauvinismo estigmatizado no soco e no tiro, na pedrada e no corte de faca ou facão. Dados estatísticos mostram que as mortes domésticas são feitas de tais expedientes primitivos e elementos da traição e do ódio gratuito, incluindo outras mortes ritualizadas em atos até mais cruéis. Mulheres guerreiras e libertárias não faltam na história. Muitas desempenharam seus papéis corajosamente e a contento, sem parcialidade. E continuam desempenhando, emergindo e acontecendo pela multiplicação propiciadora de efeitos no sentido favorável e decisivo de seu próprio crescimento individual e humano, afetivo e sociocultural.
RELEITURAS
1) Caligrafia da solidão – Maria João Cantinho. Este livro de 2007 reúne dez contos que refletem um clima de grande lirismo com a afluência do sonho, do delírio e da abstração. Nesta perspectiva, ela inicia o primeiro conto, com título igual ao do livro: “Na penumbra, as cortinas movem-se. O vento manso da tarde entra. Por momentos, o quarto ilumina-se. Raios fulvos de sol correm no chão enquanto o homem escuta os sons, o murmúrio da folhagem, geme no chão vazio, ouvindo a luz, o sopro, as folhas que estremecem, numa fala de árvores”. Trechos como este vão se repetir numerosas vezes, revelando a comunhão homem-natureza. Em “Apagar os Rastros”, a travessia de um homem em plena guerra mundial leva-o até seus limites extremos – da doença, da invasão momentânea de suas melhores lembranças, do desespero pelo cerco da polícia nazista, e finalmente da reconciliação consigo mesmo através da morfina. Outros personagens são identificados pela cegueira, que pode ser tanto real como sugerida ou imaginária. Cegos por uma circunstância orgânica, ou por não enxergar o mundo concreto do cotidiano, ou ainda por recusar-se a vê-lo simplesmente, ou ainda mais por ignorar os meandros da natureza humana e suas manifestações mais profundas de sentimento e esperança. Assim, certo olhar metafísico assume um primeiro plano, do olhar que se volta bem mais para si mesmo e a própria solidão do que para o outro e o mundo. Há passagens que parecem ter sido tiradas de versos, e isto fica bem mais patente quando se sabe que essa autora portuguesa também é poetisa. Da intrusão da poesia na prosa, resulta que seus textos seguem um roteiro que não abre mão do lirismo, nem, em termos da ficção, do ritmo característico à prosa.
2) Antonio – Beatriz Bracher. A história de Benjamim, “o filho morto” e redivivo em outra geração, movimenta todo um complexo genealógico, que embora formado por um grupo numericamente pequeno de pessoas, empreende a conjunção narrativa da riqueza e das misérias da vida de uma família paulista quatrocentona. Vivências trazidas a lume pela multiplicidade de “personas” e atores que nela interagem cotidianamente. E que revelam as suas facetas familiares obscuras e suas mazelas corriqueiras, as trajetórias individuais de figuras as mais díspares removendo-se num mesmo espaço. O avô Xavier, pai do primeiro Benjamim, um sonhador que exerceu funções como as de editor, crítico de arte e dramaturgo. Um sujeito que não cessou a continuidade e a reprodução, mesmo com suas inclinações e empreitadas artísticas consideradas extremamente fantasiosas e utópicas pelos que o rodeavam. Na estrutura romanesca de Antonio (2007), Beatriz Bracher apresenta, como possíveis substitutivos aos capítulos, três personagens-narradores: a avó Isabel, os amigos da família Haroldo e Raul. Cada relato vai destecer o fio fino e leve que une vida e morte, a aparição de outros personagens definidores para a trama, como o sempre lembrado Teo, o pai do segundo Benjamim, que deixa São Paulo para se aventurar pelo sertão. “Preparação do Corpo”, o fortíssimo e pungente texto final, parece ter sido elaborado paulatinamente, para criar o inevitável clímax, com a morte de Isabel. A neta Laura reclama do odor excessivo das flores: “Que cheiro forte, vai deixar todo mundo tonto”. Ao que uma florista ali presente, responde com “falsa distração”: “O cheiro do cadáver fica cada vez pior, por isso as flores. Os dois se misturam e a gente acha que a tontura vem só das flores, não é tão chocante”.
3) A escrita da nova mulher – org. Luzilá Gonçalves Ferreira. Publicado em 2005 pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, traz oito ensaios acadêmicos sobre nuances da condição feminina e feminista da mulher, com destaque para mulheres escritoras. Os perfis enquadram esboços biográficos em atitudes e estilos, que ensejam revelações estéticas a partir de análises de livros produzidos por mulheres pioneiras de épocas mais distanciadas, como o século 19, ou que atuam e atuaram em dias recentes ou contemporâneos. De Edwiges a Nélida, de Virginia Woolf a Ercília Cobra, numa circularidade que envolve caracteres isolados e coletivos complementados pela escrita única e inconfundível que cada uma articulou. Sem esquecer de todo o corpus de influências literárias ou de outros matizes culturais que cada uma sofreu e absorveu, repudiou ou aceitou. São visões que expõem a faceta transgressora de mulheres que estiveram “à frente de seu tempo”, tal Edwiges de Sá Pereira revisitada por Andreza Cristina e Irmã Maranhão Barbosa. Travando uma luta desigual que podia iniciar-se em cidades pequenas, atravessar o estado e o país, culminando na perseguição promovida por presidentes brasileiros, caso de Ercília Cobra estudada por Alcina Bechara. O romance “Mulher no espelho”, de Helena Parente Cunha, servindo como pano de fundo para a teorização e as conquistas da mulher ao longo do tempo e de países nos contextos transgressivos e de submissão. Ou a identificação e a recuperação de traços educativos em populações sertanejas esquecidas, em intervenção radical que “confirma o compromisso de Maria Ignez Mariz em construir uma personagem feminina apresentando traços de resistência, com o desejo subversivo de aprender a ler e escrever, na busca de liberdade”, conforme as palavras de Ana Maria Coutinho, sobre a autora paraibana.
4) Porque sou gorda, mamãe? – Cíntia Moscovich. Pelo menos três linhas temáticas orientam a confecção deste romance da primeira década 2000. A relação sofrida e ao mesmo tempo simbiótica com a mãe. O questionamento profundo de literatura e vida prática tendo como consequência o assumir-se definitivamente como escritora. A obsessão pela gordura que serve de explicação para tudo no texto. Há passagens de um humor impagável, como aquela em que a vaca Mimosa recusa o leite à família judaica imigrante, mas é flagrada de noite dando de mamar a uma cobra. Outra em que três tias da protagonista, com seu peso excessivo, quebram o eixo de um carro importado que é o orgulho do patriarca judeu. A narradora, na conversa unilateral e intimista que mantém com a mãe, expressa uma relação de amor e ódio, de compaixão e culpa, de admiração e dependência familiar. A comida, num polo, significa gula, satisfação ou prazer; no outro, pelo excesso, tristeza e imobilidade melancólica. Em praticamente todos os capítulos, a personagem central vai, juntamente com um médico, acompanhando a diminuição de peso e comemorando a caráter, isto é, comendo. Cíntia mostra que o “gordo” é outro “diferente” desde que o mundo é mundo – as funções e atos da vida não são os mesmos para quem, dentro da normalidade cotidiana, representa, por vezes, uma espécie de “anormalidade” corporal e orgânica. E isto, mesmo que o gordo mostre-se externamente um ser alegre e sadio. Ao lado de um estilo limpo, enxuto e amadurecido, o exercício metafórico de Cíntia Moscovich se faz desconcertante e inusitado: “De noite, o tormento se multiplicava e eu tinha medo das sombras que juntavam o chão ao teto, que colavam o armário à parede, que iludiam meus olhos a ponto de eu não ver o perigo”.
MULHER
Por que estás
à sombra inerte,
à sombra dos metais
quais bronzes ferozes,
qual morte silente?
(Não te quedaram
as violências,
lágrimas secas,
estas marcas
e demais ofensas
ao teu corpo?)
Ardente teu brilho,
tua força ceifada
serena se explode
e vais ferver,
vais cintilar
com armas equivalentes.
(1983)
De passagem por Olinda decido ir à procura de alguém que conheço. Chego ao bairro. Localizo a rua e a casa. Chamo. Moram apenas as duas. Mãe e filha. A mãe aparece. Mesmo me reconhecendo não se altera. Não me convida a entrar e nem alimenta nenhuma conversa. Diz apenas que Ela não está. E retira-se para dentro ruminando seus velhos severos cabelos de prata. Antes fecha a porta. Os olhos frios duríssimos por trás dos óculos dourados.
Vi que a antiga árvore da entrada do jardim da casa definhara bastante. Raízes e galhos implodindo cansada. Não havia rastro dos pneus do carro. Insisto. Mas eu preciso saber onde Ela está. A mãe rebate. Agora eu só sei que aqui Ela não está. Taxativa. Volte outro dia. Digo que não posso vir outro dia. Bate novamente a porta na minha cara. Mais três pancadinhas e falo com Ela. Três pancadinhas de nada. Três pancadinhas assim. Desisto. Seguirei o conselho da velha.
Outro dia eu volto. Um tempo que usarei para lembrar e relembrar. Noites que se sucediam rapidamente até o núcleo de vivências inesperadas de muito pique e festa. Horas encruzadas de contatos com aspirantes a artistas e artistas consolidados. Artistas da vida que se equilibravam com a força da ginga e do verbo. Sucesso garantido com as mulheres malucas desinibidas. Bailarinas poetas atores cantoras músicos pintoras. Gente diversa que compunha o espetáculo repetido de bares alternativos e próprios para turista ver e desfrutar. Barraquinhas de queijo assado e tapioca. Abraxas. Cantinho da Sé. Praça do Carmo. Ladeira de São Francisco.
A loucura de aparência espectral de uns contraposta à lucidez falseada de outros. Alguns mergulhados e embalados no ritmo de cigarros ainda proibidos para consumo geral e somente por lá encontrados. Bolinhas de guaraná e fartura de alcaloides . Sempre guardando qualquer ressonância com um passado tão próximo quanto o presente que se estava a fazer. Todos com sede radical de vida. Boêmios que abraçavam a noite pela noite. Sem trocar a conversa bem-humorada e sem compromisso pela destilaria de saberes acumulados. Na noite cerceada e sem saída inventava-se uma outra noite só ocorrente na claridão de luzes clandestinas.
Amanhece e é preciso retornar ao provisório de um quarto. Transitar pela cidade ainda sonolenta. Resolvo que vou ao duplex das duas para ver se Ela também já voltou da surpresa viageira e errante. Busco sem hesitar pela velha ao basculante da porta. Nenhum sinal humano ali. Estava morta na volta. Não sei o motivo. Velhice talvez. Antes tentava dormir não dormia. Agora dorme sem tentar nem desejar. Dormirá indefinidamente. Não há dúvida de que Ela não voltou. Não pude mais procurá-la.
UM POEMA DE GERUSA LEAL
Em Versilêncios (2008), Gerusa Leal pratica uma escrita delicada e sem alarde, mas também sem resignação nem aceitação cega do que a rodeia. Vive e exprime situações cotidianas em sua inteireza ou parcialidade. Questiona os atos simples da vida para melhor compreendê-los. Interage com o ambiente exterior através da poesia que enfoca ângulos diferenciados de visada na percepção de seres e objetos, na fatura que passa a limpo como espetáculos do mundo um vaso de flores, uma laje de prédio, uma vizinha próxima e ao mesmo tempo distanciada. E isto se verifica tanto naqueles dias em que nada dá certo e é preciso esperar pelos instantes seguintes em que porventura o mundo e as idéias retornem ao seu imprevisível lugar. Não intenta estabelecer, nos seus poemas, nenhum ciclo novidadeiro ou fluxo inventivo impossível de ser conseguido por agora. É um fato que, na atualidade, escasseiam materiais concernentes e renovados para isso, no caos de uma grande produção que vem permeando a poesia ao longo dos séculos. Sem se abater, ela trabalha com afinco os materiais líricos que se mostram à mão. Por isso, dirá no poema “Escrevedor”:
não escrevo o que não sinto
amadora que sou
sinto o que não escrevo
jeito de driblar a dor
escrevo o que não sinto
salvo a vida
não sinto o que não escrevo
nem percebo que vivi
O poema não partilha ilusões, falseadas às vezes, ou assimiladas cotidianamente pela sina do ser poeta. Vislumbra a condição e o fingimento pessoano, que anula a dor suposta e a real, e, por uma ironia suprema e incisiva, passa a reafirmar sensivelmente o amor. Assim, no estrato secular e fragmentário das formas e sentidos, Gerusa Leal procura descartar discretamente a “dor”. Elege a “vida” antes da escrita do que não se sente. E assume o silêncio do não escrever que não se amplie em vida, que não renda homenagem ao milagre de se estar vivo.
PARACHOQUES
Há frios cubos, metais de lodo, flores de cinza
na Catedral. Na República agonizam os ventos.
COTIDIANAS
É flagrante o avanço qualitativo sinalizado na cota de espaço demarcado e na dosagem de liberdade conquistada pelas mulheres na sociedade atual. Elas se fazem presentes e com força em todos os setores e campos da vida, do lazer e do trabalho. Na política ou na direção de uma empresa, na engenharia e nas artes. Na luta social e nos meandros da justiça, na publicidade e na literatura, na internet e nos órgãos de imprensa. Executiva e professora. Atriz pornô e modelo de luxo. Glamorosa ou desleixada, sem jamais perder de vista o que nela se manifesta em vaidade feminina. Sensualidade à flor dos poros da pele, que busca muito mais do que a mera condição assexuada, sem se arranhar nas veredas escolhidas e adotadas. Rigidez e frieza no comando e na defesa de organizações de procedência variada, da ultra-secreta à pública e oficial.
Todas reivindicam e merecem o devido respeito, não importando a atividade assumida. Mesmo aquelas que atuam na sombra e na bandidagem podem um dia se regenerar. Ou irão encontrar no seu caminho apenas prisão, violência e morte. A mulher não declina o seu instinto maternal por circunstância de tarefas que exijam o máximo de sua fibra e resistência. Algumas delas precisam disto para o embate com o chauvinismo estigmatizado no soco e no tiro, na pedrada e no corte de faca ou facão. Dados estatísticos mostram que as mortes domésticas são feitas de tais expedientes primitivos e elementos da traição e do ódio gratuito, incluindo outras mortes ritualizadas em atos até mais cruéis. Mulheres guerreiras e libertárias não faltam na história. Muitas desempenharam seus papéis corajosamente e a contento, sem parcialidade. E continuam desempenhando, emergindo e acontecendo pela multiplicação propiciadora de efeitos no sentido favorável e decisivo de seu próprio crescimento individual e humano, afetivo e sociocultural.
RELEITURAS
1) Caligrafia da solidão – Maria João Cantinho. Este livro de 2007 reúne dez contos que refletem um clima de grande lirismo com a afluência do sonho, do delírio e da abstração. Nesta perspectiva, ela inicia o primeiro conto, com título igual ao do livro: “Na penumbra, as cortinas movem-se. O vento manso da tarde entra. Por momentos, o quarto ilumina-se. Raios fulvos de sol correm no chão enquanto o homem escuta os sons, o murmúrio da folhagem, geme no chão vazio, ouvindo a luz, o sopro, as folhas que estremecem, numa fala de árvores”. Trechos como este vão se repetir numerosas vezes, revelando a comunhão homem-natureza. Em “Apagar os Rastros”, a travessia de um homem em plena guerra mundial leva-o até seus limites extremos – da doença, da invasão momentânea de suas melhores lembranças, do desespero pelo cerco da polícia nazista, e finalmente da reconciliação consigo mesmo através da morfina. Outros personagens são identificados pela cegueira, que pode ser tanto real como sugerida ou imaginária. Cegos por uma circunstância orgânica, ou por não enxergar o mundo concreto do cotidiano, ou ainda por recusar-se a vê-lo simplesmente, ou ainda mais por ignorar os meandros da natureza humana e suas manifestações mais profundas de sentimento e esperança. Assim, certo olhar metafísico assume um primeiro plano, do olhar que se volta bem mais para si mesmo e a própria solidão do que para o outro e o mundo. Há passagens que parecem ter sido tiradas de versos, e isto fica bem mais patente quando se sabe que essa autora portuguesa também é poetisa. Da intrusão da poesia na prosa, resulta que seus textos seguem um roteiro que não abre mão do lirismo, nem, em termos da ficção, do ritmo característico à prosa.
2) Antonio – Beatriz Bracher. A história de Benjamim, “o filho morto” e redivivo em outra geração, movimenta todo um complexo genealógico, que embora formado por um grupo numericamente pequeno de pessoas, empreende a conjunção narrativa da riqueza e das misérias da vida de uma família paulista quatrocentona. Vivências trazidas a lume pela multiplicidade de “personas” e atores que nela interagem cotidianamente. E que revelam as suas facetas familiares obscuras e suas mazelas corriqueiras, as trajetórias individuais de figuras as mais díspares removendo-se num mesmo espaço. O avô Xavier, pai do primeiro Benjamim, um sonhador que exerceu funções como as de editor, crítico de arte e dramaturgo. Um sujeito que não cessou a continuidade e a reprodução, mesmo com suas inclinações e empreitadas artísticas consideradas extremamente fantasiosas e utópicas pelos que o rodeavam. Na estrutura romanesca de Antonio (2007), Beatriz Bracher apresenta, como possíveis substitutivos aos capítulos, três personagens-narradores: a avó Isabel, os amigos da família Haroldo e Raul. Cada relato vai destecer o fio fino e leve que une vida e morte, a aparição de outros personagens definidores para a trama, como o sempre lembrado Teo, o pai do segundo Benjamim, que deixa São Paulo para se aventurar pelo sertão. “Preparação do Corpo”, o fortíssimo e pungente texto final, parece ter sido elaborado paulatinamente, para criar o inevitável clímax, com a morte de Isabel. A neta Laura reclama do odor excessivo das flores: “Que cheiro forte, vai deixar todo mundo tonto”. Ao que uma florista ali presente, responde com “falsa distração”: “O cheiro do cadáver fica cada vez pior, por isso as flores. Os dois se misturam e a gente acha que a tontura vem só das flores, não é tão chocante”.
3) A escrita da nova mulher – org. Luzilá Gonçalves Ferreira. Publicado em 2005 pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, traz oito ensaios acadêmicos sobre nuances da condição feminina e feminista da mulher, com destaque para mulheres escritoras. Os perfis enquadram esboços biográficos em atitudes e estilos, que ensejam revelações estéticas a partir de análises de livros produzidos por mulheres pioneiras de épocas mais distanciadas, como o século 19, ou que atuam e atuaram em dias recentes ou contemporâneos. De Edwiges a Nélida, de Virginia Woolf a Ercília Cobra, numa circularidade que envolve caracteres isolados e coletivos complementados pela escrita única e inconfundível que cada uma articulou. Sem esquecer de todo o corpus de influências literárias ou de outros matizes culturais que cada uma sofreu e absorveu, repudiou ou aceitou. São visões que expõem a faceta transgressora de mulheres que estiveram “à frente de seu tempo”, tal Edwiges de Sá Pereira revisitada por Andreza Cristina e Irmã Maranhão Barbosa. Travando uma luta desigual que podia iniciar-se em cidades pequenas, atravessar o estado e o país, culminando na perseguição promovida por presidentes brasileiros, caso de Ercília Cobra estudada por Alcina Bechara. O romance “Mulher no espelho”, de Helena Parente Cunha, servindo como pano de fundo para a teorização e as conquistas da mulher ao longo do tempo e de países nos contextos transgressivos e de submissão. Ou a identificação e a recuperação de traços educativos em populações sertanejas esquecidas, em intervenção radical que “confirma o compromisso de Maria Ignez Mariz em construir uma personagem feminina apresentando traços de resistência, com o desejo subversivo de aprender a ler e escrever, na busca de liberdade”, conforme as palavras de Ana Maria Coutinho, sobre a autora paraibana.
4) Porque sou gorda, mamãe? – Cíntia Moscovich. Pelo menos três linhas temáticas orientam a confecção deste romance da primeira década 2000. A relação sofrida e ao mesmo tempo simbiótica com a mãe. O questionamento profundo de literatura e vida prática tendo como consequência o assumir-se definitivamente como escritora. A obsessão pela gordura que serve de explicação para tudo no texto. Há passagens de um humor impagável, como aquela em que a vaca Mimosa recusa o leite à família judaica imigrante, mas é flagrada de noite dando de mamar a uma cobra. Outra em que três tias da protagonista, com seu peso excessivo, quebram o eixo de um carro importado que é o orgulho do patriarca judeu. A narradora, na conversa unilateral e intimista que mantém com a mãe, expressa uma relação de amor e ódio, de compaixão e culpa, de admiração e dependência familiar. A comida, num polo, significa gula, satisfação ou prazer; no outro, pelo excesso, tristeza e imobilidade melancólica. Em praticamente todos os capítulos, a personagem central vai, juntamente com um médico, acompanhando a diminuição de peso e comemorando a caráter, isto é, comendo. Cíntia mostra que o “gordo” é outro “diferente” desde que o mundo é mundo – as funções e atos da vida não são os mesmos para quem, dentro da normalidade cotidiana, representa, por vezes, uma espécie de “anormalidade” corporal e orgânica. E isto, mesmo que o gordo mostre-se externamente um ser alegre e sadio. Ao lado de um estilo limpo, enxuto e amadurecido, o exercício metafórico de Cíntia Moscovich se faz desconcertante e inusitado: “De noite, o tormento se multiplicava e eu tinha medo das sombras que juntavam o chão ao teto, que colavam o armário à parede, que iludiam meus olhos a ponto de eu não ver o perigo”.
MULHER
Por que estás
à sombra inerte,
à sombra dos metais
quais bronzes ferozes,
qual morte silente?
(Não te quedaram
as violências,
lágrimas secas,
estas marcas
e demais ofensas
ao teu corpo?)
Ardente teu brilho,
tua força ceifada
serena se explode
e vais ferver,
vais cintilar
com armas equivalentes.
(1983)
Assinar:
Postagens (Atom)