SAGRAÇÃO
CARLOS NEWTON JÚNIOR
que em alguma parte
parece que no Brasil
existe
um homem feliz.
MAIACOVSKI
I
Tempo, começarei a minha história.
Eu cantarei meu canto de mim mesmoe nele me abrirei como se fosse
um livro feito em carne, folheado
sob a luz, pelo vento e pelo fogo.
Aqui eu deixarei tantas palavras
de ordem e desordem, de harmonia
e caos, por mais que sejam arrumadas
na aridez polida dos meus versos.
A dor não me deixou, eu te asseguro,
Tempo, ela ainda corta a minha alma
em pedaços de angústia, como a lâmina
corta postas de peixe no mercado,
à vista salivante dos mendigos.
A minha arma, Tempo, é de festim.
Sei pouco ou nada sei, então eu sigo
como um plagiador inveterado,
trazendo todo o inferno no meu peito
com os seus nove círculos de fogo;
pisoteando os versos que eu encontro
como se fossem uvas no lagar,
tentando, em vão, fazer meu próprio vinho,
que desce à garganta, aos engulhos.
Vê: hoje eu tentarei tocar a flauta
da minha escoliose acentuada.
Eu que jamais pensei em despedidas,
e sim na alegria dos encontros.
Não quero o pagamento, no futuro,
de todos os amores incompletos,
por mais que sejam belas as estrelas.
Eu a quero inteira, eu a quero
tal como a vejo agora no retrato,
nesta sua beleza que dispensa
discursos, que renega maquiagens,
como as cores, que foram escorraçadas
pelos renascentistas, dos seus mármores.
Agora é que o incidente começou:
eu passarei meus erros em revista
e os cantarei sem medo do ridículo,
sem medo do revólver na gaveta.
Mais de um crítico escroto irá dizer:
“Lá vem esse poeta decadente
com seus insuportáveis decassílabos”.
Não imaginam, Tempo, o que há de vir
e mesmo assim já mostram seus caninos.
Que eles se contorçam em suas camas
e engulam o veneno das salivas;
que cada coração se afogue em cólera
para expurgar de vez as impurezas.
Tempo,
que a tolerância deixe agora o palcoe o rancor dite os rumos da comédia:
eu irei transgredir meu próprio ser
resignado, calmo e complacente;eu irei transgredir a minha fala
que não será mais doce, e sim amarga;eu irei transgredir a forma exata
do poema, seus versos, suas quadras;eu irei transgredir os meus ouvidos,
pois deixarei o metro como quemlarga a esposa e se atira num abismo.
II
A todos vós, que me queríeis
corromper com um poema sujo,sonhado desde as entranhas, oculto
de olhares indiscretos, com seus vermes,
e que fosse explosão, catarse,
desvelamento de impurezas
regado a vômito e fezes;
a todos vós, que me queríeis ver,
num instante de insensatez,num momento de fraqueza, de inesperada atonia,
subverter a ordem poética;
horrorizado com o meu próprio martírio,
eu vos entrego, de mãos limpas,a subversão da poesia.
III
Quando foi que me vesti
de sonho e de alegria?Houve um tempo só de sonhos,
de iniciação aos mitos, de vivênciasem que o real e o sonho se uniram
para forjar o poeta.
Houve um tempo de errâncias,
de brevidades irresponsáveis, de instantesintensificados sob a luz da lua;
um tempo de verdades absolutas
que invadiam ouvidos resignados
e trancavam, por dentro, a boca muda.
Tudo o que eu ouvia, então,
era bom, era belo e verdadeiro,mesmo que as rosas oferecidas
às vezes revelassem o espinheiro
e a triste frigidez das coisas mortas.
Não houve anjo torto nem exortação à vida:
houve a vida vivida sem disfarces,o colégio, as notas, os brinquedos
e a solidão batendo à minha porta.
IV
Era um tempo de poesia, em que a beleza,
restringindo-se às formas naturais,já era percebida pelo olhar
do menino cheio de esperanças.
Era um tempo de poesia, sem poema,
sem pecado nem salvação,
e um coração, de menino,
pulsava forte, mesmo sem paixão.
V
Houve um rosto que mirava espelhos
e mãos que estouravam as espinhas;houve pés que um dia se calçaram
para jamais sentirem novamente
a terra molhada pelas chuvas,
os seixos roliços, o pinicar da areia.
Os pés incharam com o passar do tempo
até intumescerem suas veias.
Houve mãos que apalparam um par de seios
e dedos trêmulos roçavam os seus bicos
como ao sintonizar o rádio novo
do avô, temeroso de quebrá-lo.
A nudez proibida se mostrava
nos lugares mais inesperados:
num canto de muro, atrás das portas,
ou em sonhos acordados, no banheiro.
VI
De resto, de muito pouco é que me lembro:
dos jambos maduros roubados nos caminhos,dos amigos que cresceram e mudaram de partido,
das brincadeiras de rua – bola de gude, academia, pega-bandeira,
esconde-esconde, baleado, polícia-ladrão –
e das primeiras angústias da morte inconcebível
naquele dia triste, depois do qual
não mais fui despertado por meu cão.
VII
Lembro-me da OCIA, a ultra-secreta
“Organização dos Cientistas Amadores”,e sua gloriosa expedição ao Triângulo das Bermudas;
dos insetos capturados em terrenos baldios para serem dissecados,
da barata anestesiada sobre a mesa,
à base de pequenas doses de inseticida e leves chineladas,
e do primeiro choque estético,
ao ver seus líquidos internos na lâmina do microscópio,
que revelavam cores e formas admiráveis,
de um abstracionismo orgânico superior ao das vanguardas estéreis,
magistral, calidoscópico,
primordial e inigualável.
VIII
Na minha casa não havia livros, exceto os da escola,
e livros na escola não havia, exceto os que levávamos de casa;moldava-se, assim, toda uma geração
de crianças cegas, alheias à vida verdadeira,
que tateavam o sublime sem compreendê-lo.
Esfriavam em pedra, dentro de nós,
as sementes das árvores frondosasali colocadas pela quinta força,
ansiosas por germinarem, ansiosas
por estenderem seus galhos nos espaços.
Adiada estava a contemplação dos enigmas,
adiado o desabrochar da consciênciade que o mundo é uma máquina, cujo segredo, indecifrável,
precisamos descobrir, sob pena de morte.
IX
Houve conquistas e roteiros malogrados
e olhos sempre abertos pelo medo.Houve noites de insônia e auroras
atravessadas sem os seus cabelos.Houve mãos vazias e dedos intranqüilos
a tatear em vão tantos segredos. Houve tardes de sol, e se não foram tantas,
adornaram meus versos de esperanças.X
Houve falas bebidas como sumos,
pois as línguas não duelaram, eram espadasembainhadas, sem o vigor da ira.
As línguas se continham em cada boca,
inofensivas como as armas na parede
de um colecionador de antiguidades.
As órbitas reluziam os seus raios
de centro a centro das retinas,
e cada qual com o seu punhal oculto
via a alma do outro aprisionada
por compromissos, convenções, hipocrisias.
XI
Houve a tarde de chuva grossa, e o encontro
fortuito na esquina do colégio:“Ei-la, então”, pensei quase alto,
“bastaria que essas mãos apaziguassem minha face
para que eu não mais temesse o sabor das maçãs
nem que essa chuva se transformasse num dilúvio”.
Ali estávamos:
eu com o guarda-chuvas, a oferecer abrigoe a receber, em troca, o seu sorriso,
o leve contato do seu ombro,
a paz que excede os conflitos do mundo
nos segundos em que a levei até o carro.
Houve o beijo sonhado no escuro
e a realidade do escarro.XII
Eu não venho dos bagos de guerreiros
como o poeta Mourão, eu não descendode Albuquerques, Cavalcantis, desbravadores
de mares e de terras, com suas cartas,
os seus dotes, suas ilhas, seus forais,
sua fome de ouro, seus brasões
impressos em padrões armoriais.
A minha grei de gente mediana,
de funcionários honrados, de mãos limpas,de rostos escanhoados e bigodes
aparados, de voz polida
e sorrisos anuentes,
instilou no meu sangue essa revolta
que só agora vomito no papel;
que se materializa em negra tinta
e se espraia na barba descuidada,nos modos obtusos, na rispidez da língua.
Eu travarei a luta, verso a verso.
Combaterei, incansável,a crítica burra, a mídia louca,
a intolerância dos medíocres,
a inveja inconseqüente dos canalhas,
os jornalistas sem caráter,
a porca rafaméia dos políticos,
os poetastros, os possessos,
a gente analfabeta da província.
A mesa já está posta, os comensais
aguardam ansiosos o banquete.“Há ali um colunista social”, alguém me diz,
“que veio para cobrir tão nobre evento”.
Dá-lhe, amigo, aquele feixe de feno,
pois eu te asseguro que se ele o provar
sairá daqui extasiado, afirmando
não haver degustado, em toda a vida,
semelhante iguaria, tão bem servida.
XIII
Nutrido de distâncias, eu, o amargo,
ainda espero a tua aparição efêmera.Quando virás dourar as minhas tardes
descendo desse azul de céu sem fim?
Eu te espero na solidão de fruta
esquecida no prato, à revelia das crianças,que irá apodrecer sem ser provada.
Eu te espero
como o menino que se perdeu,desesperado entre tantas pernas,
chora abraçado à sua bola.
Eu te espero
como um velho lúcido, mas inválido, aguarda a jovem e bela enfermeira
que o levará ao jardim.
Eu te espero como o mais mísero dos náufragos,
um doente dos nervos, um neurótico,boiando no oceano da loucura,
e que ainda aguarda, por milagre,
a tábua da sua salvação,
o fim dos surtos, dos delírios, das alucinações.
XIV
Chega a noite, abro mais um livro
de poeta que me toca, o doce som da flautaacende o apetite dos ouvidos
e faz vibrar a viga dos meus ossos.
Meus dedos roçam, lentamente, o inefável,
percorrem as manchas negras no papel,
como se tateassem o ventre de mulher grávida,
que ainda não clama com dores, ainda
não sofre tormentos por parir.
Eis o choque estético, a faísca elétrica
transmite-se de uma folha à outra,
da folha impressa à folha branca, imaculada
que o poeta também trouxe para a mesa,
e a estupra no furor da esferográfica.
Então o poema, prenhe de beleza
gera outros versos, como o sêmen
gera filhos, e estes, num olhar, num simples gesto,
revelam, mesmo sem querer, a sua estirpe,
o pasto em que seus touros ruminaram,
a mais pura visão da sua origem.
XV
Uma ave sobrevoa o meu poema
em círculos, ela adeja sobre o núcleoda beleza que não gerei, mas reencontro
em tantas noites de leitura silenciosa.
Será o poema, então, reminiscência
não dos arquétipos, mas de tudo
que se constrói à luz do engenho humano
e de repente explode e se derrama
num gozo de prazer indescritível
pela alvura do papel, como os metais
derretem-se no cadinho do alquimista.
Um poema alimenta o outro, como a ave
alimenta seus filhotes, depositando a caça
retalhada em pedaços, pelas garras,
diretamente nos seus bicos.
Ao fazê-lo, decerto ela ignora
que lhes transmite a seiva do futuro,
de tudo aquilo que reluz agora
e irá reluzir, mesmo no escuro.
XVI
Há milênios essa ave
acicata a nossa raça,chamando-nos para o sol.
Desde o dia primeiro, em que voou
sobre pequenas placas de argila,
até hoje, quando adeja
sobre teclados, monitores, fiações.
As distâncias percorridas no seu vôo
revelam a soberba extensão da memória.
A ave, de fato, voou alto,
percorrendo distâncias imensuráveis:
partiu das margens dos quatro rios,
sobrevoou as ruínas de Sodoma,
transpôs montanhas e vales desérticos,
desceu velozmente à Hélade piscosa, roçou
as asas nos pescoços dos aedos,
acompanhou, de cima, as trilhas dos menestréis,
cruzou o oceano acompanhando caravelas,
tocou as cordas de prata das violas,
forjou o som fanhoso das rabecas.
E assim, ligando os elos da corrente,
marcou a minha fronte a ferro quente.
XVII
Não há vôo
sem pássaro dentro, não hánenhum vôo à nossa espera
que nos leve além das rotas conhecidas
por essa ave que singrou os quatro ventos
em seu indômito e selvagem nomadismo.
Não haverá verso sem ânsia de história,
indiferente aos mortos que nos gritam
suas queixas gasosas nos ouvidos;
não haverá verso sem passado e sem memória,
de poeta fechado no seu quarto
trocando a vida pífia pela glória
de tornar-se imortal sem ter vivido.
XVIII
Orientado por uma bússola interior,
instalada em suas vísceras profundas,o pássaro sobrevoa o lugar
em que corpo e espírito se reencontram
e se contradizem.
Aqui,
liberto da sua indumentária,
das suas máscaras, seus coturnos,
na flácida nudez do corpo inerme,
o perecível ator só diz a fala
da sua própria natureza obcecada
pela glória das efêmeras criações,
pelo amor que não gozou, pela dor
que sente ao perceber que o tempo voa
ainda mais ligeiro que o pássaro maldito.
XIX
Que a ave cante, pois eu a seguirei
como criança que vai à caça do tesouro,que esquece os compromissos da escola
e nem sequer se lembra do almoço.
Que poder tem esse canto, que feitiço
emana desse som que contagia
e se propaga de geração a geração,
e nos faz fantasmas em nosso próprio castelo,
arrastando correntes pelo chão?
XX
Não nasce o poema
de cesariana, os versos arrancadosdas entranhas do cérebro, do sangue,
de um já tão inchado ventre.
Não há poema
indiferente à fértil placidez das águas claras,
às fontes e suas musas desbocadas,
ao pássaro que voa além das chamas redentoras
e nos incendeia com o seu canto,
aliviando o fardo que levamos.
O livro aberto, as palavras sublinhadas,
na vigília do desejo insatisfeito,
na iminência da fecundação
de estrofes e outros tantos versos,
sim, e ainda assim, elas esperam
a noite certa, a hora exata,
o minuto preciso da explosão.
XXI
De tempos em tempos, a ave, em pleno vôo,
que é risco de memória no espaço,volta a cabeça para contemplar os escombros
das antigas civilizações,
a catástrofe dos ossos sobrepostos
como a formarem uma altíssima muralha
a impedir o seu retorno; então,
pena por pena, as asas se arrepiam,
e ela aperta, entre os dedos, os grãos
colhidos na sua terra de origem,
e que a alimentarão, para todo o sempre
e a cada salto, pois ela voa, incólume,
cada vez mais alto.
XXII
Ave, pássaro...
somente agora me ocorre a dúvida atroz:será de fato ave, aquele ser alado
que só de longe diviso, mas descrevo neste canto
como se o tivesse pousado em meu ombro
e sentisse, no pescoço,
o inefável roçar das suas asas?
Será pássaro, o ser alado
que noite e dia me tutela os passos
e indica o caminho da difícil escalada?
Angelical ou demoníaco, o ser alado
oriundo das terras ermas, de mundos paralelos,de lugares só descritos em antigas mitologias,
pode ser grifo hediondo, pode ter
o seu perfil de esfinge feroz, cruel cantora,
a nos lançar os seus enigmas indecifráveis,
ciosa de nos devorar e corromper...
Não importa: resignados, nós seguimos,
humanas carcaças do porvir,cada qual com a sua vertigem, cada qual
com a sua morte e a sua solidão,
a tentar, no desespero dos dias e das noites,
escapar à voragem do abismo,
erguendo pontes sobre as ilhas em que nos isolamos,
feito náufragos da própria criação.
Nós, humildes servos da harmonia,
a lavrar a terra em infindáveis corvéias,que se repetem, dia após dia,
na vã tentativa de edificar um império,
o tirânico império da Beleza,
que jamais irá nos pertencer
e no entanto já está em nós,
como uma luz para sempre acesa.
XXIII
A Beleza, Tempo, que é a tua mais enfática negação,
posto que é luz que transcende os belos corpos,e tudo o que é vivo, e brilha, e é perecível,
somente é conhecida de alguns poucos:
são esses os eleitos, os que, ainda em vida,
percorreram, em difícil ascese, a via estreita,
contemplaram a juventude dos deuses,
e a estes se uniram, em pacto de sangue.
Somente depois foi que morreram,
imunes à dinâmica dos finíssimos grãos
que escorrem na ampulheta do teu ombro.
XXIV
Eu vi coisas, Tempo,
que nem o teu fantástico poderapagará da minha mente.
Eu vi
os soberbos corcéis e seus ginetes
extraídos da pedra pelo gênio
de Fídias,
o touro negro às portas do holocausto,
indiferente entre os seus algozes;
eu vi, em outra sala,
a leoa ferida que rugia
os seus urros cortantes e ferozes.
Vi Ulisses atado ao mastro
do seu bojudo barco, costeando
a ilha das sereias, o largo peito
impando com o deleite dos seus cantos.
Eu a vi
passando em gestos leves como deusa
de talhe impecável e harmonia
de pássaro em vôo, eu a vi
dourar um dia escuro como a noite
e me trazer de volta a alegria.
XXV
Os corredores do museu
eram fantásticos portais do tempo;suas paredes, guardiãs de arcanos
insondáveis pelo simples pensamento.
Meus passos esmagavam apenas metros,
e a cada metro desapareciam
as distâncias seculares da história;
desapareciam, por artes de magia,
a fome dos miseráveis, o sangue das trincheiras,
o luto das mães, as mortes inocentes,
as incompreensões, as guerras fratricidas.
Sobressaía, ao meu olhar enfeitiçado,
todo o nosso destino assinalado,
nossa estranha passagem pela Terra.
XXVI
Ó Senhor das vértebras aladas,
mito, sono e veio puro!Ó Tempo, tu que és a substância
de que todos nós somos feitos!
Tu que és o curandeiro universal!
Ó tu, grão-vizir da memória!
Ó filho do Céu e da Terra, que cedo revoltou-se
contra o próprio pai, ferindo-o gravemente à foice!Ó tu, que nem dos próprios filhos tiveste piedade
e lépido os devoravas, ao vê-los nascer,
para somente contemplá-los no fundo das tuas entranhas!
Eu te suplico, Tempo,
a ti, que te atreves a colunas de mármore e corações de cera;a ti, vaqueiro imbatível, que em todos nós, cabeças do gado humano,
pões a tua marca, que queima feito brasa viva:
deixa-a imune a teus caprichos
de sádico cruel e inconcebível.
Em troca,
a teu decreto curvarei a fronte humilde
sem emitir nenhum protesto.
Eu me entrego a ti, em oferenda,
para que possas me consumir ainda mais rápido,duas vezes mais rápido,
três vezes mais rápido,
matando, em meu corpo, a tua sede
de epidermes e coronárias.
Mas se isso for de fato impossível,
ó Tempo duro,ao menos retarda sobre ela a tua ânsia
de demonstrar o teu inigualável poder.
Toma este meu canto para te distrair, considera-o
como o som das batidas de escudos e capacetesoriundo da dança dos Curetes.
Ministra, com vagar, teu caldo estranho,
a ela que é inocente, pois não tem culpada beleza que lhe foi concedida
como uma dádiva, como um raio de sol,
e que, se não pode permanecer para sempre,
ao menos deve perdurar, para melhor ser lembrada,
semeando, sobre a terra,
a alegria de que é repleta, e que tanto contrasta
com teu semblante de feroz carniceiro.
XXVII
Cloto, Láquesis e Átropos
contigo se mancomunaram, Tempo,para tecerem nossos tapetes, distintos e imutáveis,
mas cujos fios um dia se cruzaram,
talvez por um descuido incompreensível, posto que divino,
talvez por interferência de outros deuses, mais antigos
e de Panteão incerto.
Seja como for,
não vês que agora somos, eu e ela, Deucalião e Pirra?
Não vês que nossos pastos foram poupados, nossos rebanhos e nosso trigo,
e só juntos poderemos, agora,
renovar o gênero humano,
atirando, de olhos velados, pedras para trás,
que em homens e mulheres irão se transformando?
XXVIII
Setembro expõe as minhas rugas
pelos espelhos da casa.O poeta está no poema
como a chama de uma velapermanece na lembrança
após uma longa noite de blecaute;
o poeta está no poema
como a árvore está no fruto que se comeou no pássaro que a tocou
ao pousar em seus galhos;
o poeta está no poema
como o estômago do homem permanecena mão de quem lhe deu um soco,
ou nos olhos espantados do seu rosto;
o poeta está no poema
como o cervo permanecena bala do caçador
que lhe roeu as entranhas;
como o cervo também permanece
no pernil que vai ao fogo, na fumaça
que se desprende da fogueira,
no seu forte e agradável odor;
o poeta está no poema
como o cervo ainda permanecenum osso descarnado, jogado aos cães,
como merecida recompensa,
ou na menor gota de saliva
que da boca de um cão cai na terra,
e é por esta tragada, em sua sede insaciável.
XXIX
Precocemente envelhecido, aos quarenta anos de idade,
Carlos Newton Júnior, professor e funcionário público,descendente de paraibanos, pernambucanos e portugueses,
homem sem patrimônio e escritor cheio de inimigos, justamente
por não condescender com a mediocridade e o mau-caratismo,
por não bajular os poderosos do dia, por não
mudar de opinião, muito embora não tenha a idéia fixa dos doidos,
emparedado entre as dunas e os muros da universidade em que leciona
tão-somente para ganhar o pão, pois não acredita
na educação em um país de governantes que não lêem,
forçado a ascender mas mutilado
por tudo que é cansativo e antipoético
como a prosaica luta pela sobrevivência,
orgulhoso do título que recebeu,
de “Cavaleiro Armorial da Ordem da Pedra do Reino do Sertão do Brasil”,
por artes e vontades de si mesmo, à revelia
das academias, clubes de escritores e institutos
com seus compadrios, suas malícias, estatutos,
seus presidentes vitalícios, suas nulidades literárias,
cada qual com a dimensão que a província lhe concede,
sagra-se, enfim, poeta.
XXX
Somente agora, aos quarenta anos de idade,
eu me aproximo de ti, Maiacovski.Antes fosse pela tua vida
de comandante revolucionário;
antes fosse pelos teus versos
cortantes, claros, combativos;
antes fosse pela inveja do teu porte
de gigante bem apessoado,
com um crânio repleto de versos
que saíam de tua boca numa voz imperativa
como o estrondo de um trovão.
Eu me aproximo de ti
por causa do amor.Por não acreditar no trigésimo século
e saber que não irei ressuscitar
para revê-la.
Porque, com o meu coração dilacerado,
eu também desejei ser um czarpara gravar uma única imagem sobre todas as moedas
e fazê-la brilhar pela terra inteira,
cheia de alegria.
Sei, por ouvir dizer,
que poema algum irá jogá-la nos meus braçose apagará a chama que me queima.
Sei, por ouvir dizer,
que não há esconderijo seguro o bastante,e a ruína silenciosamente se infiltrará
em nossas veias.
Sei, por ouvir dizer,
que tudo é ocultoneste mundo edificado em erro e fogo,
e portanto não devo crer nem procurar
o que a mim foi vedado desde o nascer.
Tempo, saqueador de juventudes,
confio na tua sapiência,conheço a tua amplitude e a ti me rendo.
Não sou um príncipe de contos de fadas, não mereço
um final feliz.
Os dias irão passar, os invernos,
primaveras e verões que hão de vir,
as dores, as lágrimas, os outonos,
os frutos apodrecerão sobre a terra
e outros surgirão, novos roçados
serão plantados após as queimadas
até a completa exaustão do solo,
destroços serão levados pelos rios
de águas poluídas e peixes mortos,
e o fruto enorme da felicidade
despontará um dia entre as ruínas
que, sem qualquer epitáfio,
abrigarão os ossos do poeta.
Um dia, quem sabe, os pósteros lerão
o meu melhor verso,que não lhes dirá nada.
E um nome estará perdido,
para todo o sempre,na minha sagração.
[07-09-2006]
In: De mãos dadas aos caboclos, Bagaço, 2008.






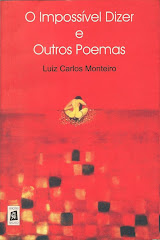
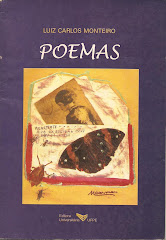
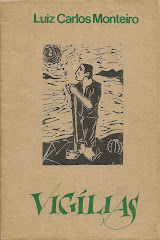


Nenhum comentário:
Postar um comentário